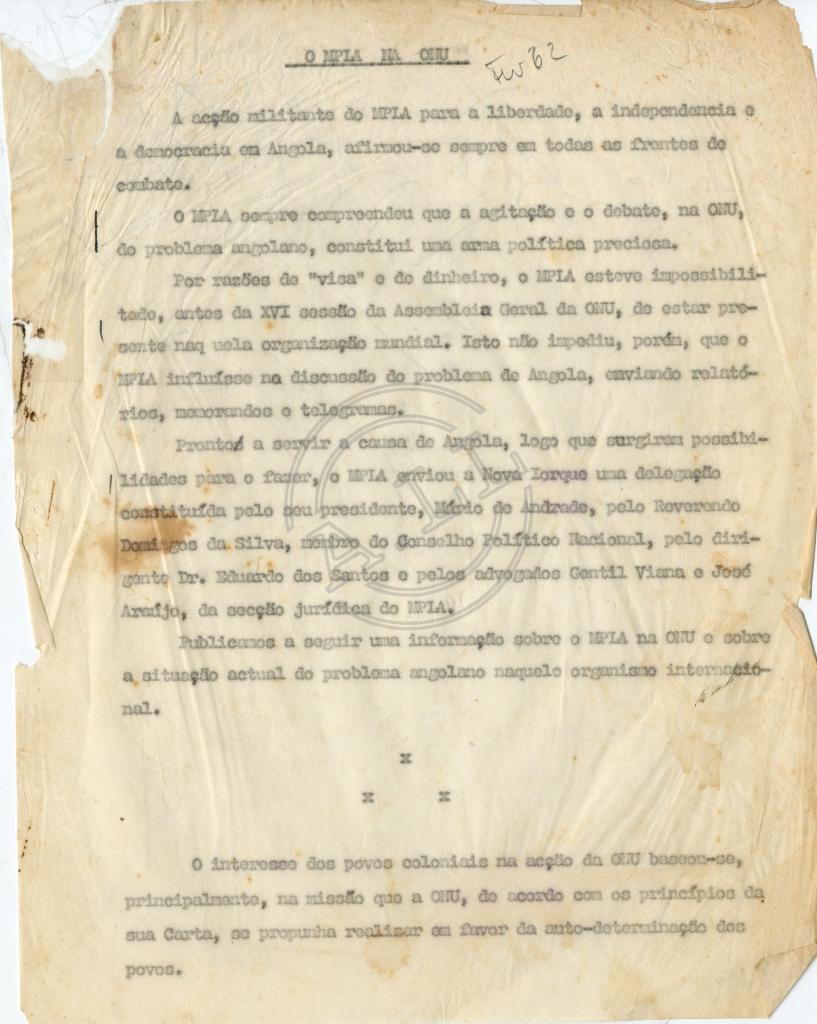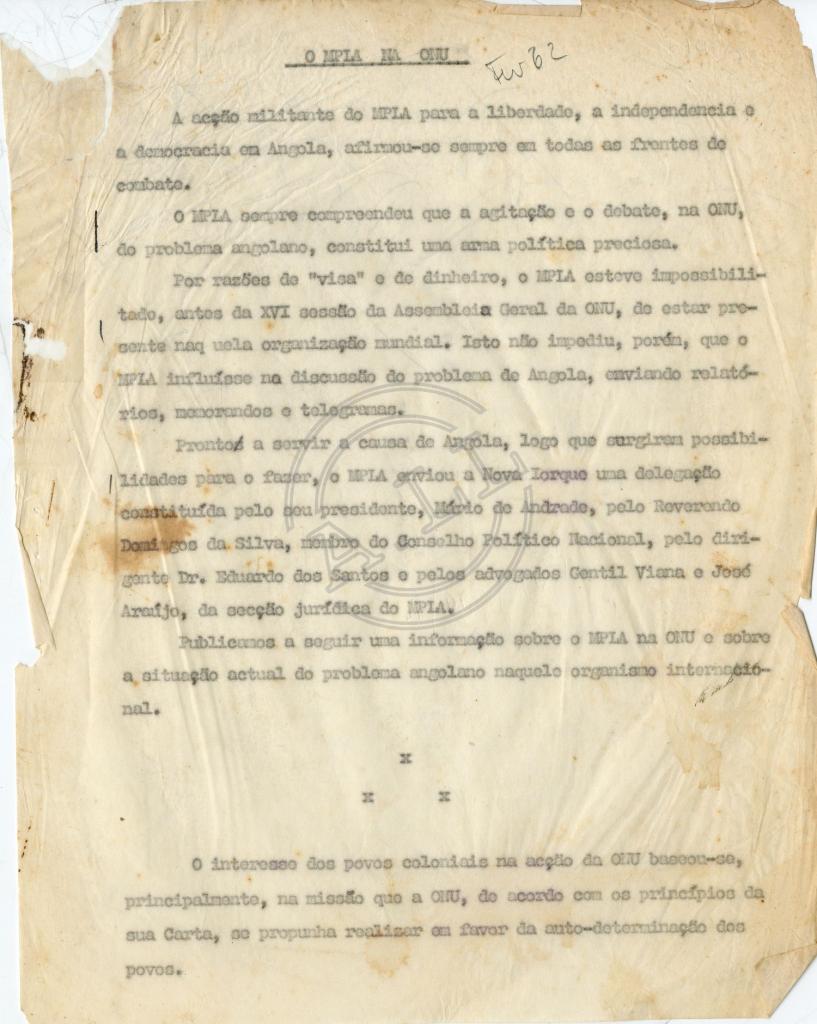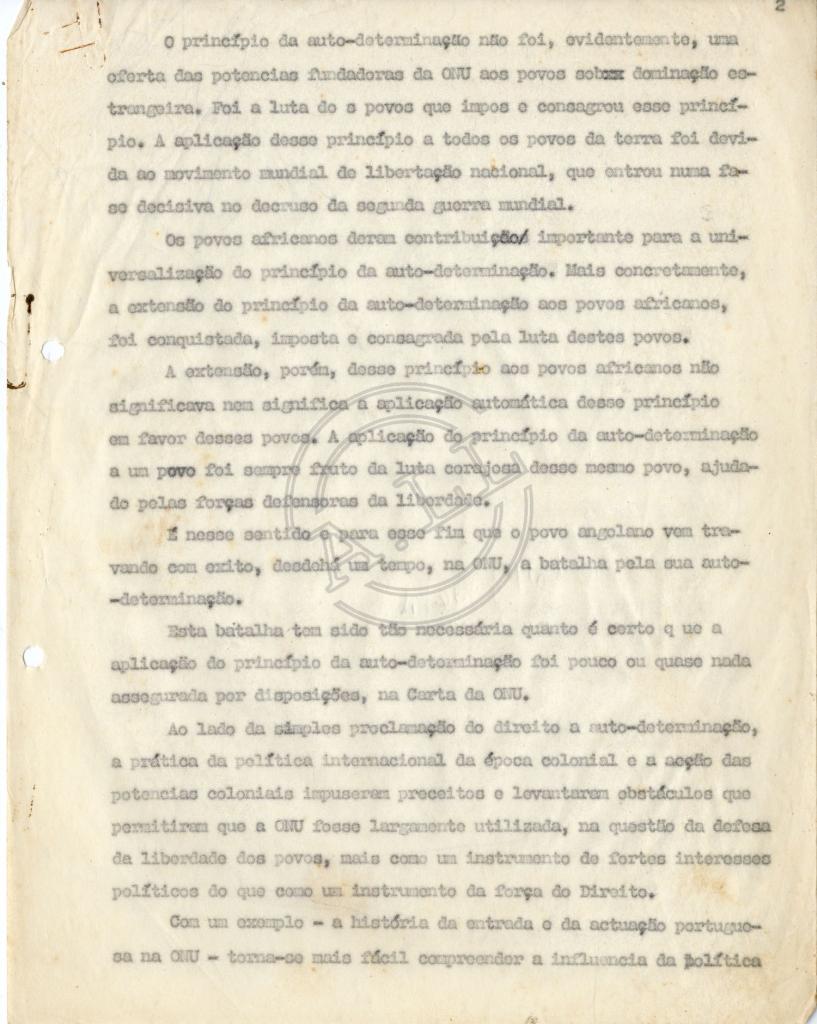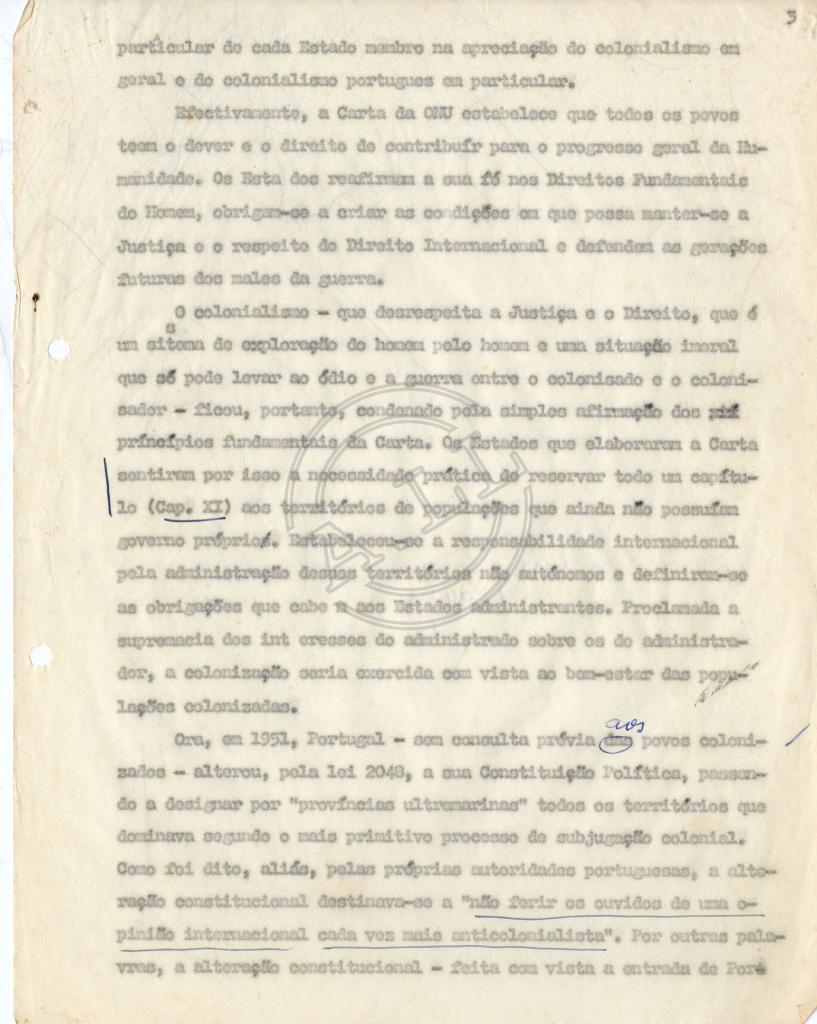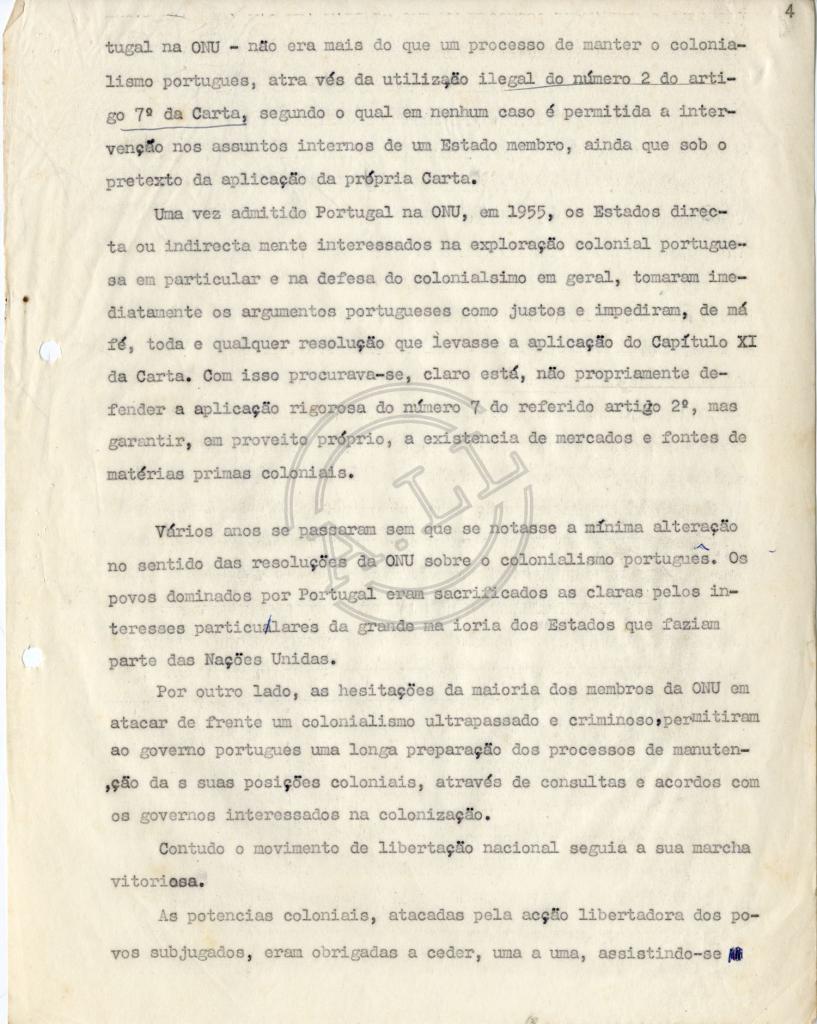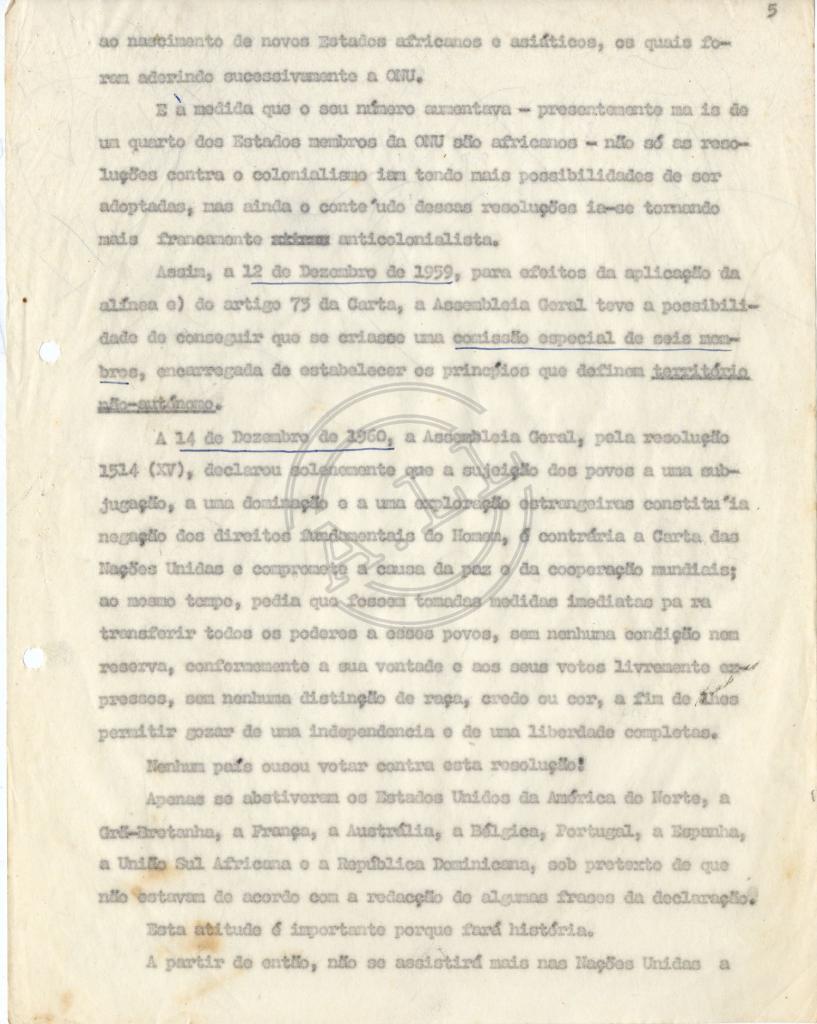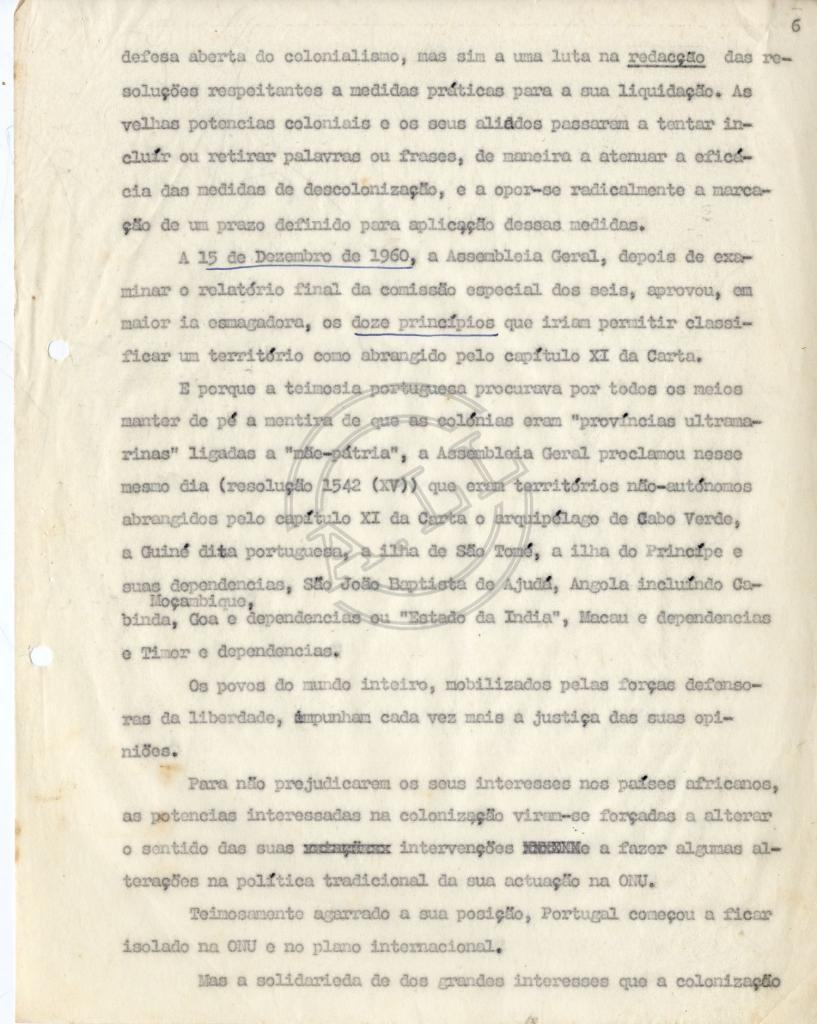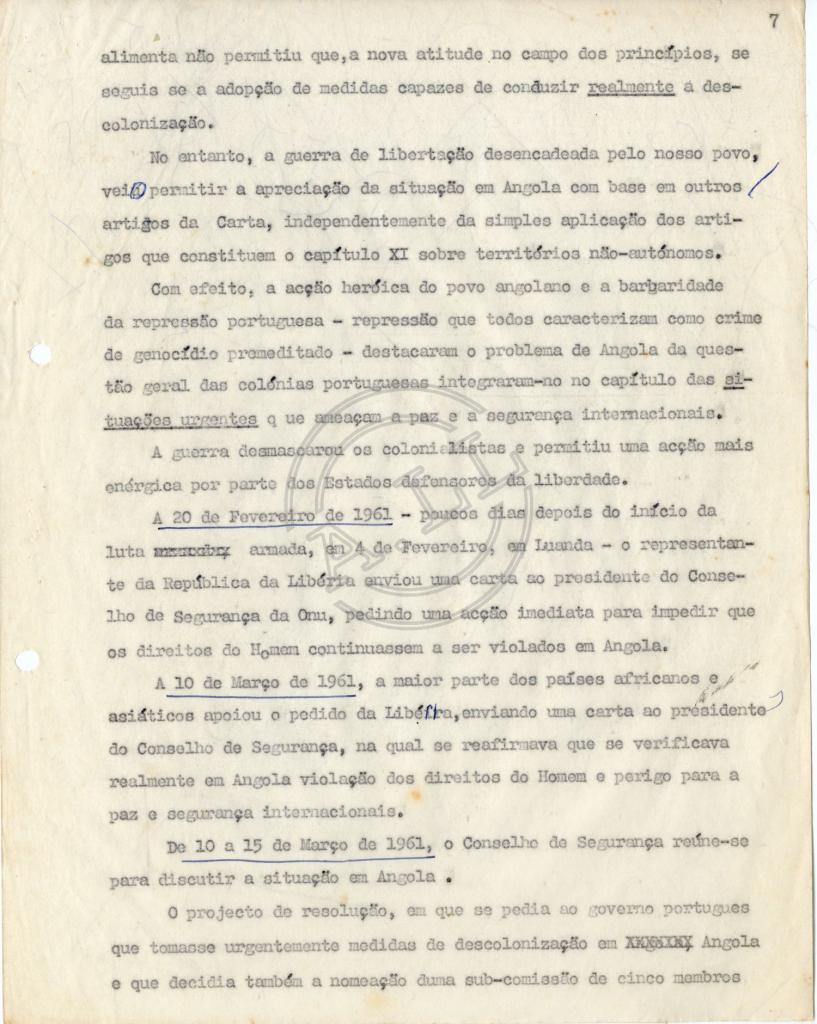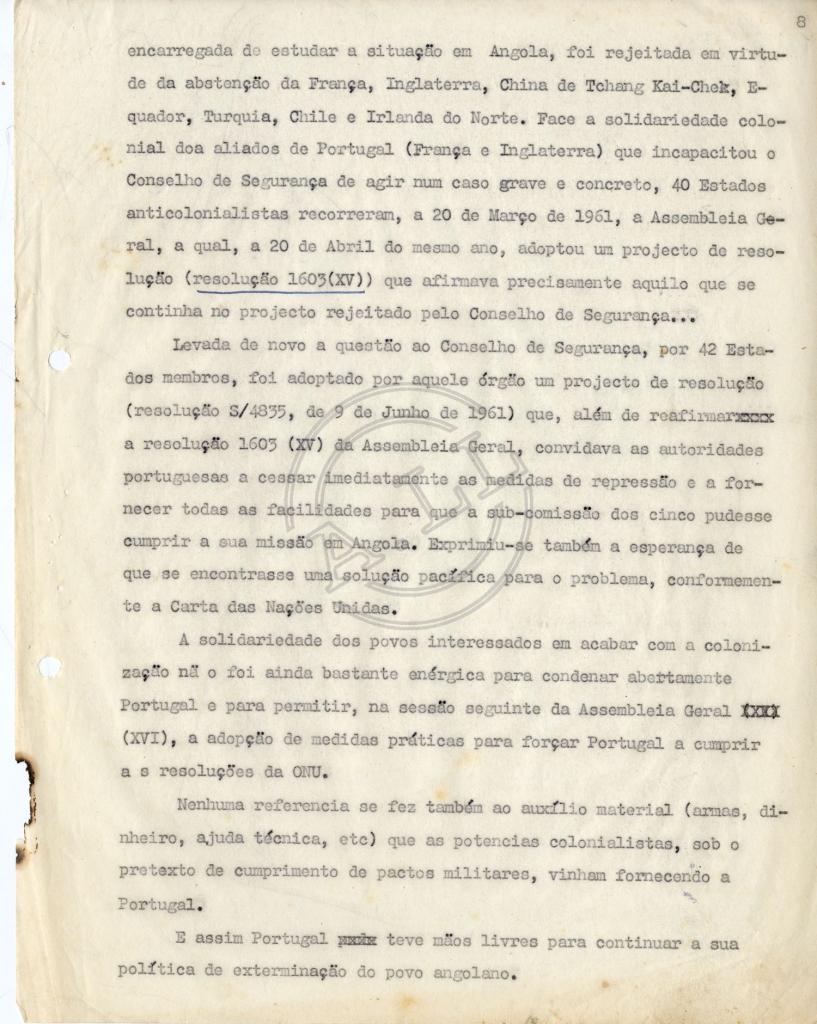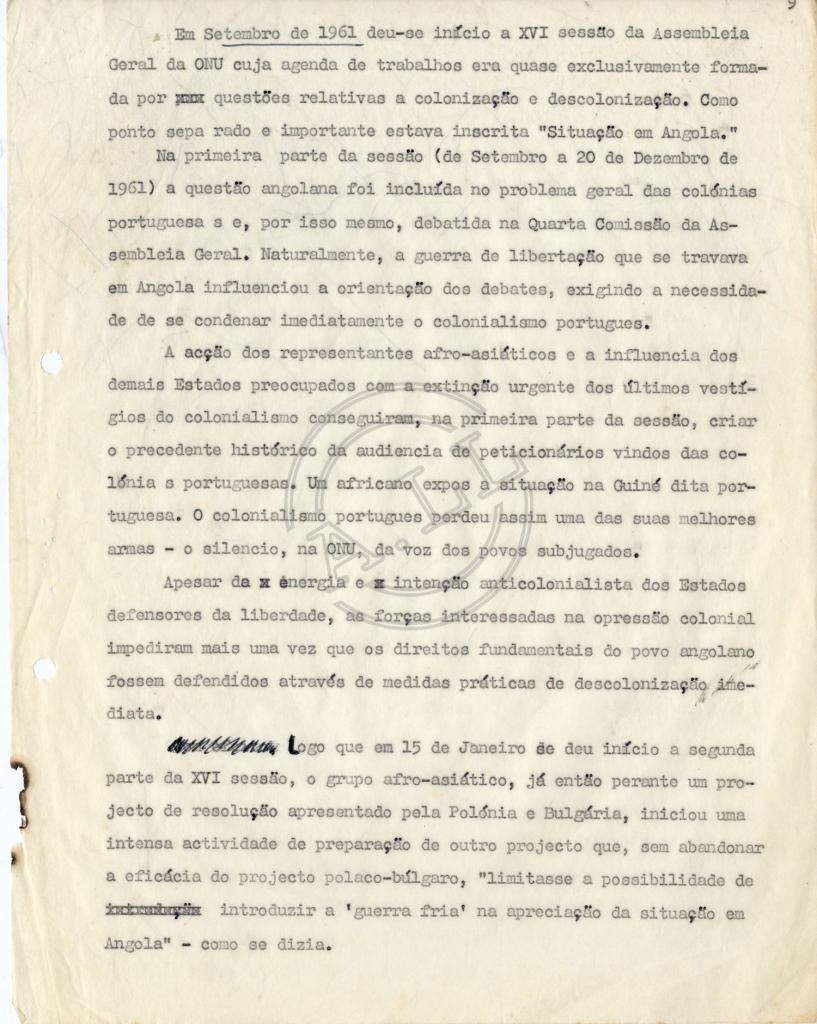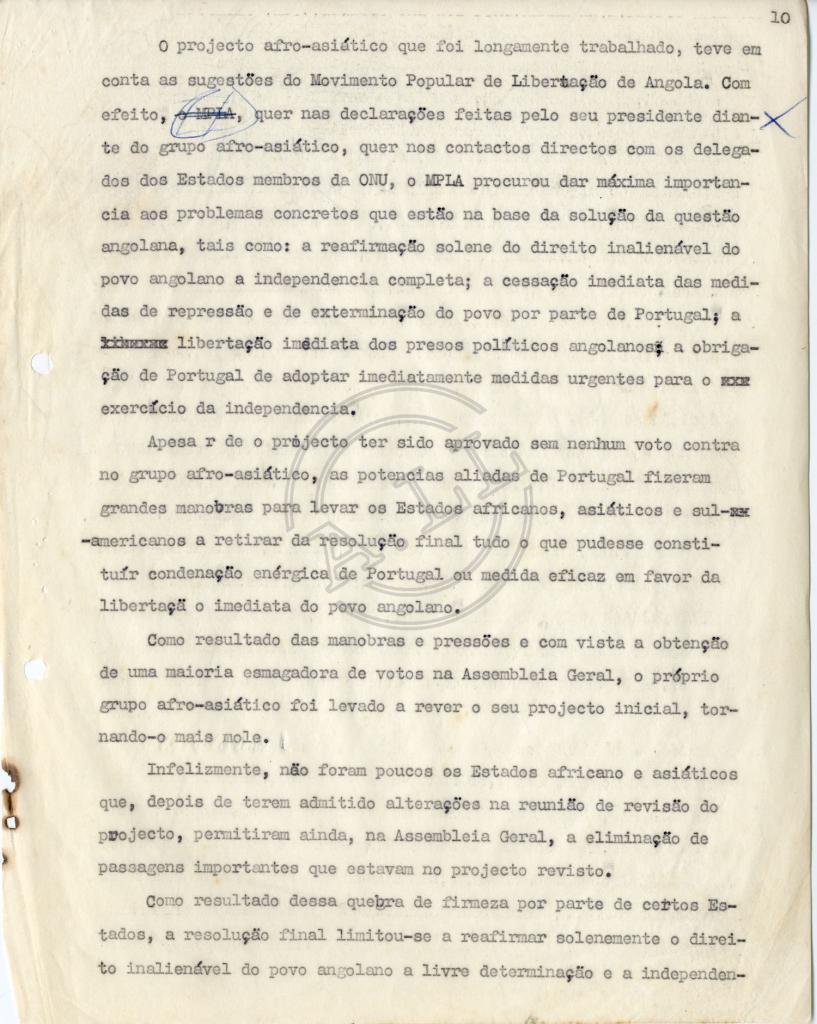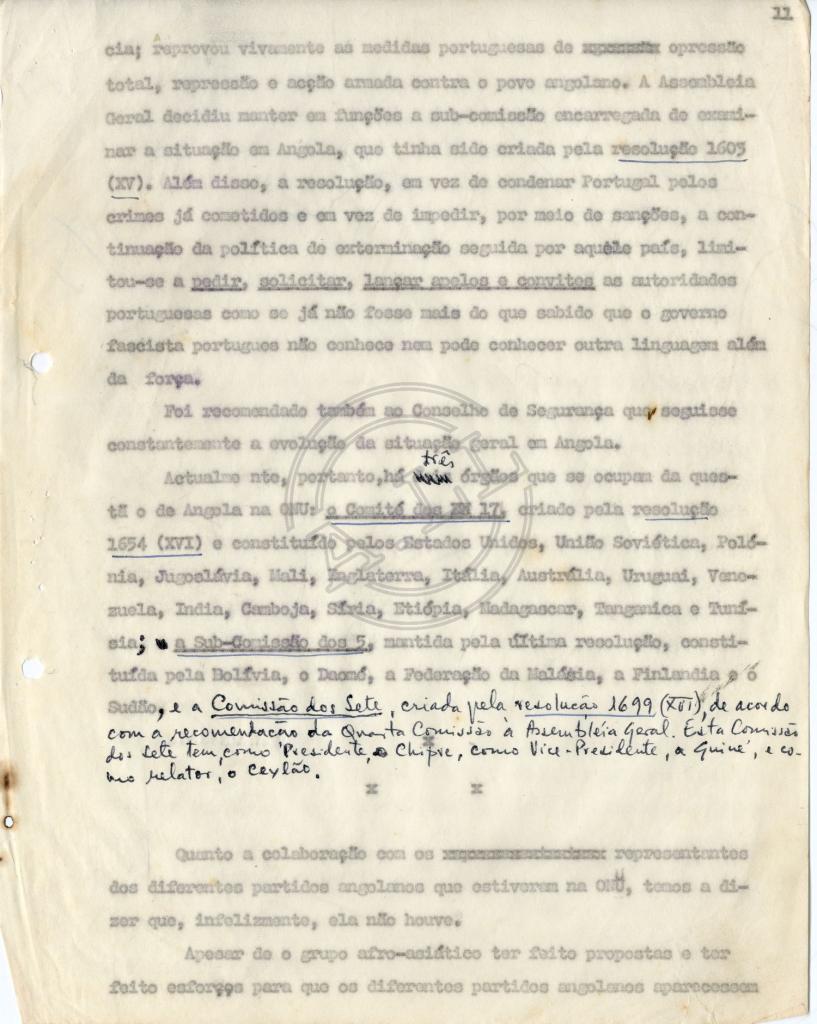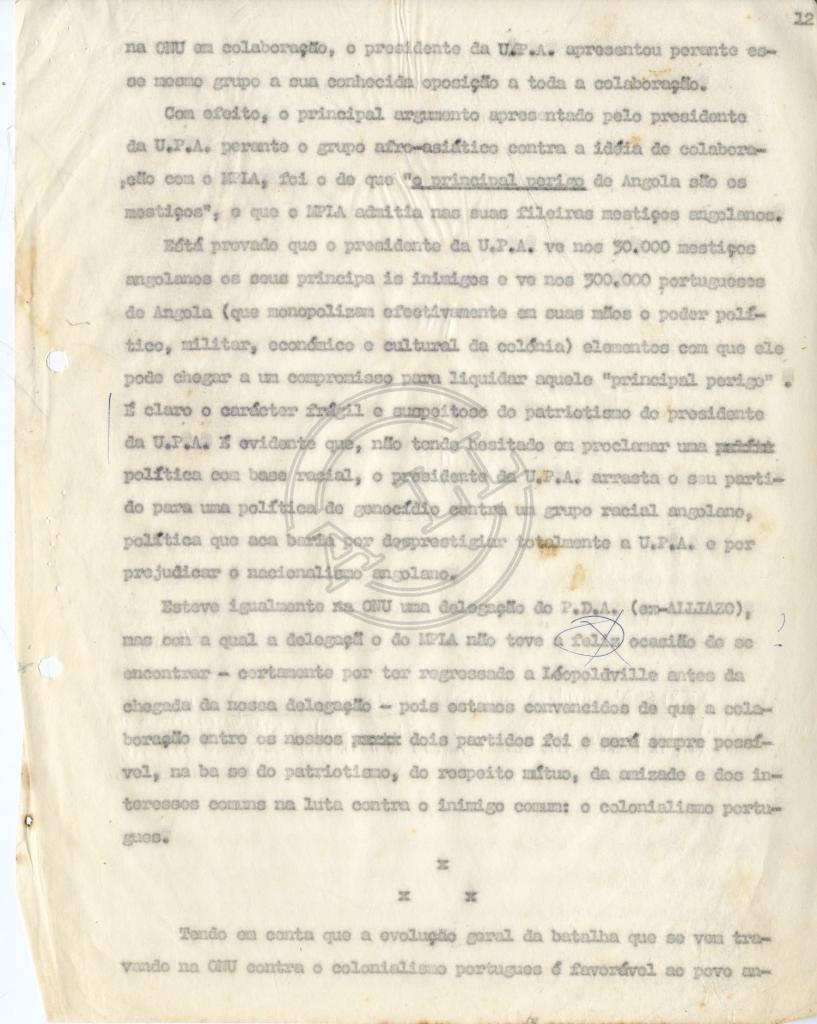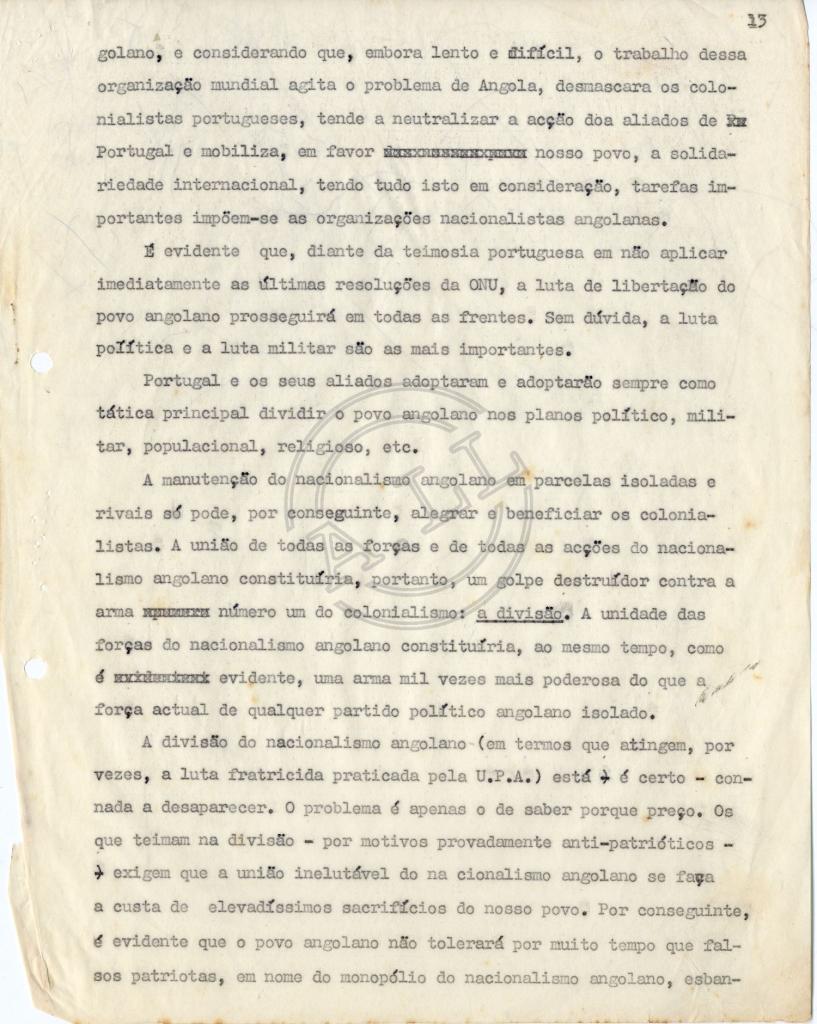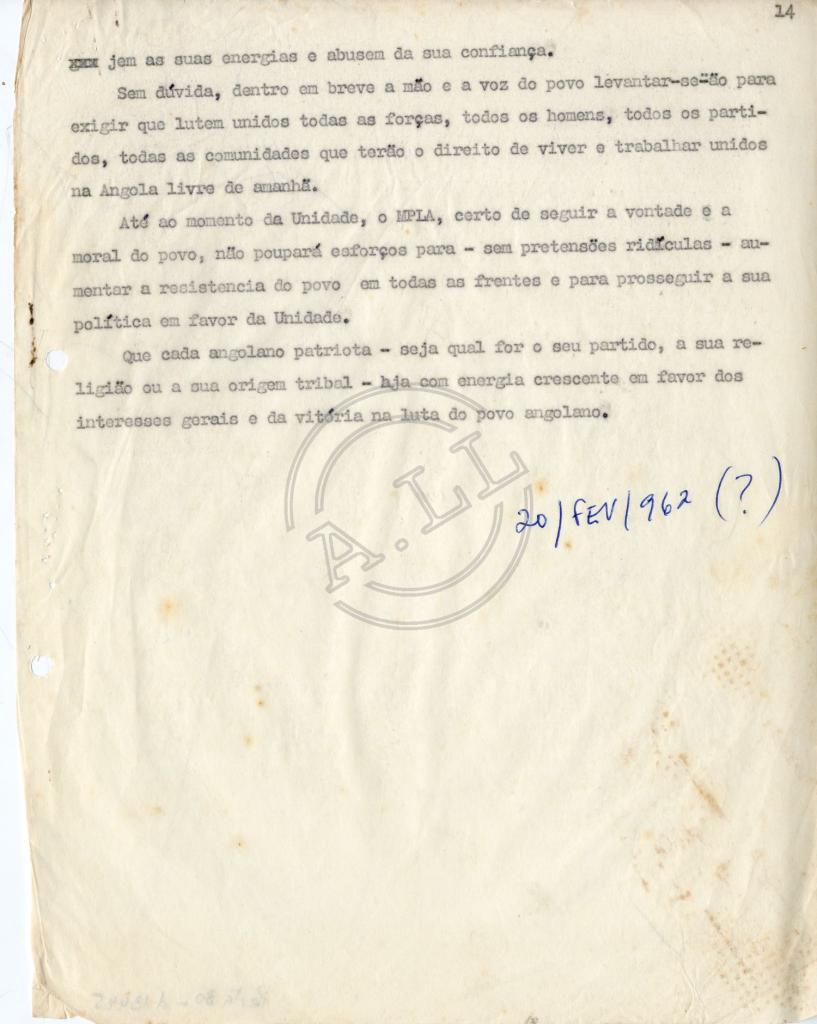Foi publicado no 2º volume de «Um amplo movimento…»
O MPLA na ONU [Sem data – Fevereiro 1962] A acção militante do MPLA para a liberdade, a independência e a democracia em Angola, afirmou-se sempre em todas as frentes de combate. O MPLA sempre compreendeu que a agitação e o debate, na ONU, do problema angolano, constitui uma arma política preciosa. Por razões de “visa” e de dinheiro, o MPLA esteve impossibilitado, antes da XVI sessão da Assembleia-Geral da ONU, de estar presente naquela organização mundial. Isto não impediu, porém, que o MPLA influísse na discussão do problema de Angola, enviando relatórios, memorandos e telegramas. Pronto a servir a causa de Angola, logo que surgiram possibilidades para o fazer, o MPLA enviou a Nova Iorque uma delegação constituída pelo seu presidente, Mário de Andrade, pelo Reverendo Domingos da Silva, membro do Conselho Político Nacional, pelo dirigente Dr. Eduardo dos Santos e pelos advogados Gentil Viana e José Araújo, da secção jurídica do MPLA. Publicamos a seguir uma informação sobre o MPLA na ONU e sobre a situação actual do problema angolano naquele organismo internacional. * * * * * O interesse dos povos coloniais na acção da ONU baseou-se, principalmente, na missão que a ONU, de acordo com os princípios da sua Carta, se propunha realizar em favor da auto-determinação dos povos. O princípio da auto-determinação não foi, evidentemente, uma oferta das potências fundadoras da ONU aos povos sob dominação estrangeira. Foi a luta dos povos que impôs e consagrou esse princípio. A aplicação desse princípio a todos os povos da terra foi devida ao movimento mundial de libertação nacional, que entrou numa fase decisiva no decurso da segunda guerra mundial. Os povos africanos deram contribuição importante para a universalização do princípio da auto-determinação. Mais concretamente, a extensão do princípio da auto-determinação aos povos africanos, foi conquistada, imposta e consagrada pela luta destes povos. A extensão, porém, desse princípio aos povos africanos não significava nem significa a aplicação automática desse princípio em favor desses povos. A aplicação do princípio da auto-determinação a um povo foi sempre fruto da luta corajosa desse mesmo povo, ajudado pelas forças defensoras da liberdade. É nesse sentido e para esse fim que o povo angolano vem travando com êxito, desde há um tempo, na ONU, a batalha pela sua auto-determinação. Esta batalha tem sido tão necessária quando é certo que a aplicação do princípio auto-determinação foi pouco ou quase nada assegurada por disposições, na Carta da ONU. Ao lado da simples proclamação do direito à auto-determinação, a prática da política internacional da época colonial e a acção das potências coloniais impuseram preceitos e levantaram obstáculos que permitiram que a ONU fosse largamente utilizada, na questão da defesa da liberdade dos povos, mais como um instrumento de fortes interesses políticos do que como um instrumento da força do Direito. Com um exemplo – a história da entrada e da actuação portuguesa da ONU – torna-se mais fácil compreender a influência da política particular de cada Estado-membro na apreciação do colonialismo em geral e do colonialismo português em particular. Efectivamente, a Carta da ONU estabelece que todos os povos têm o dever e o direito de contribuir para o progresso geral da Humanidade. Os Estados reafirmam a sua fé nos Direitos Fundamentais do Homem, obrigam-se a criar as condições em que possa manter-se a Justiça e o respeito do Direito Internacional e defendem as gerações futuras dos males da guerra. O colonialismo – que desrespeita a Justiça e o Direito, que é um sistema de exploração do homem pelo homem e uma situação imoral que só pode levar ao ódio e à guerra entre o colonizado e o colonizador – ficou, portanto, condenado pela simples afirmação dos princípios fundamentais da Carta. Os Estados que elaboraram a Carta sentiram por isso a necessidade prática de reservar todo um capítulo (Cap. XI) aos territórios de populações que ainda não possuíam governo próprio. Estabeleceu-se a responsabilidade internacional pela administração desses territórios não autónomos e definiram-se as obrigações que cabem aos Estados administrantes. Proclamada a supremacia dos interesses do administrado sobre os do administrador, a colonização seria exercida com vista ao bem-estar das populações colonizadas. Ora, em 1951, Portugal – sem consulta prévia dos povos colonizados – alterou, pela lei 2048, a sua Constituição Política, passando a designar por “províncias ultramarinas” todos os territórios que dominava segundo o mais primitivo processo de subjugação colonial. Como foi dito, aliás, pelas próprias autoridades portuguesas, a alteração constitucional destinava-se a “não ferir os ouvidos de uma opinião internacional cada vez mais anticolonialista”. Por outras palavras, a alteração constitucional – feita com vista à entrada de Portugal na ONU – não era mais do que um processo de manter o colonialismo português, através da utilização ilegal do número 2 do artigo 7º da Carta, segundo o qual em nenhum caso é permitida a intervenção nos assuntos internos de um Estado membro, ainda que sob o pretexto da aplicação da própria Carta. Uma vez admitido Portugal na ONU, em 1955, os Estados directa ou indirectamente interessados na exploração colonial portuguesa em particular e na defesa do colonialismo em geral, tomaram imediatamente os argumentos portugueses como justos e impediram, de má-fé, toda e qualquer resolução que levasse à aplicação do Capítulo XI da Carta. Com isso procurava-se, claro está, não propriamente defender a aplicação rigorosa do número 7 do referido artigo 2º, mas garantir, em proveito próprio, a existência de mercados e fontes de matérias-primas coloniais. Vários anos se passaram sem que se notasse a mínima alteração no sentido das resoluções da ONU sobre o colonialismo português. Os povos dominados por Portugal eram sacrificados às claras pelos interesses particulares da grande maioria dos Estados que faziam parte das Nações Unidas. Por outro lado, as hesitações da maioria dos membros da ONU em atacar de frente um colonialismo ultrapassado e criminoso, permitiram ao governo português uma longa preparação dos processos de manutenção das suas posições coloniais, através de consultas e acordos com os governos interessados na colonização. Contudo o movimento de libertação nacional seguia a sua marcha vitoriosa. As potências coloniais, atacadas pela acção libertadora dos povos subjugados, eram obrigadas a ceder, uma a uma, assistindo-se ao nascimento de novos Estados africanos e asiáticos, os quais foram aderindo sucessivamente à ONU. E à medida que o seu número aumentava – presentemente mais de um quarto dos Estados membros da ONU são africanos – não só as resoluções contra o colonialismo iam tendo mais possibilidades de ser adoptadas, mas ainda o conteúdo dessas resoluções ia-se tornando mais francamente anticolonialista. Assim, a 12 de Dezembro de 1959, para efeitos da aplicação da alínea e) do artigo 73 da Carta, a Assembleia-Geral teve a possibilidade de conseguir que se criasse uma comissão especial de seis membros, encarregada de estabelecer os princípios que definem território não-autónomo. A 14 de Dezembro de 1960, a Assembleia-Geral pela resolução 1514 (XV), declarou solenemente que a sujeição dos povos a uma subjugação, a uma dominação e a uma exploração estrangeiras constituía negação dos direitos fundamentais do Homem, é contrária à Carta das Nações Unidas e compromete e a causa da paz e da cooperação mundiais; ao mesmo tempo, pedia que fossem tomadas medidas imediatas para transferir todos os poderes a esses povos, sem nenhuma condição nem reserva, conformemente à sua vontade e aos seus votos livremente expressos, sem nenhuma distinção de raça, credo ou cor, a fim de lhes permitir gozar de uma independência e de uma liberdade completas. Nenhum país ousou votar contra esta resolução! Apenas se abstiveram os Estados Unidos da América do Norte, a Grã-Bretanha, a França, a Austrália, a Bélgica, Portugal, a Espanha, a União Sul-Africana e a República Dominicana, sob pretexto de que não estavam de acordo com a redacção de algumas frases da declaração. Esta atitude é importante porque fará história. A partir de então, não se assistirá mais nas Nações Unidas à defesa aberta do colonialismo, mas sim a uma luta na redacção das resoluções respeitantes a medidas práticas para a sua liquidação. As velhas potências coloniais e os seus aliados passaram a tentar incluir ou retirar palavras ou frases, de maneira a atenuar a eficácia das medidas de descolonização, e a opor-se radicalmente à marcação de um prazo definido para a aplicação dessas medidas. A 15 de Dezembro de 1960, a Assembleia-Geral, depois de examinar o relatório final da comissão especial dos seis, aprovou, em maioria esmagadora, os doze princípios que iriam permitir classificar um território como abrangido pelo capítulo XI da Carta. E porque a teimosia portuguesa procurava por todos os meios manter de pé a mentira de que as colónias eram “províncias ultramarinas” ligadas à “mãe-pátria”, a Assembleia Geral proclamou nesse mesmo dia (resolução 1542 (XV)) que eram territórios não-autónomos abrangidos pelo capítulo XI da Carta o arquipélago de Cabo Verde, a Guiné dita portuguesa, a ilha de São Tomé, a ilha do Príncipe e suas dependências, São João Baptista de Ajudá, Angola incluindo Cabinda, Moçambique, Goa e dependências ou “Estado da Índia”, Macau e dependências, e Timor e dependências. Os povos do mundo inteiro, mobilizados pelas forças defensoras da liberdade, impunham cada vez mais a justiça das suas opiniões. Para não prejudicarem os seus interesses nos países africanos, as potências interessadas na colonização viram-se forçadas a alterar o sentido das suas intervenções e a fazer algumas alterações na política tradicional da sua actuação na ONU. Teimosamente agarrado à sua posição, Portugal começou a ficar isolado na ONU e no plano internacional. Mas a solidariedade dos grandes interesses que a colonização alimenta não permitiu que à nova atitude no campo dos princípios, se seguisse a adopção de medidas capazes de conduzir realmente à descolonização. No entanto, a guerra de libertação desencadeada pelo nosso povo, veio permitir a apreciação da situação em Angola com base em outros artigos da Carta, independentemente da simples aplicação dos artigos que constituem o capítulo XI sobre territórios não-autónomos. Com efeito, a acção heróica do povo angolano e a barbaridade da repressão portuguesa – repressão que todos caracterizam como crime de genocídio premeditado – destacaram o problema de Angola da questão geral das colónias portuguesas e integraram-no no capítulo das situações urgentes que ameaçam a paz e a segurança internacionais. A guerra desmascarou os colonialistas e permitiu uma acção mais enérgica por parte dos Estados defensores da liberdade. A 20 de Fevereiro de 1961 – poucos dias depois do início da luta armada, em 4 de Fevereiro, em Luanda – o representante da República da Libéria enviou uma carta ao presidente do Conselho de segurança da ONU, pedindo uma acção imediata para impedir que os direitos do Homem continuassem a ser violados em Angola. A 10 de Março de 1961, a maior parte dos países africanos e asiáticos apoiou o pedido da Libéria, enviando uma carta ao presidente do Conselho de Segurança , na qual se reafirmava que se verificava realmente em Angola violação dos direitos do Homem e perigo para a paz e segurança internacionais. De 10 a 15 de Março de 1961, o Conselho de Segurança reúne-se para discutir a situação em Angola. O projecto de resolução, em que se pedia ao governo português que tomasse urgentemente medidas de descolonização em Angola e que decidia também a nomeação de uma sub-comissão de cinco membros encarregada de estudar a situação em Angola, foi rejeitada em virtude da abstenção da França, Inglaterra, China de Tchang Kai Chek, Equador, Turquia, Chile e Irlanda do Norte. Face à solidariedade colonial dos aliados de Portugal (França e Inglaterra) que incapacitou o Conselho de Segurança de agir num caso grave e concreto, 40 Estados anticolonialistas recorreram, a 20 de Março de 1961, à Assembleia-Geral, a qual, a 20 de Abril do mesmo ano, adoptou um projecto de resolução (resolução 1603 (XV)) que afirmava precisamente aquilo que se continha no projecto rejeitado pelo Conselho de Segurança... Levada de novo a questão ao Conselho de Segurança, por 42 Estados membros, foi adoptado por aquele órgão um projecto de resolução (resolução S/4835, de 9 de Junho de 1961) que, além de reafirmar a resolução 1603 (XV) da Assembleia-Geral, convidava as autoridades portuguesas a cessar imediatamente as medidas de repressão e a fornecer todas as facilidades para que a sub-comissão dos cinco pudesse cumprir a sua missão em Angola. Exprimiu-se também a esperança de que se encontrasse uma solução pacífica para o problema, conformemente à Carta das Nações Unidas. A solidariedade dos povos interessados em acabar com a colonização não foi ainda bastante enérgica para condenar abertamente Portugal e para permitir, na sessão seguinte da Assembleia-Geral (XVI), a adopção de medidas práticas para forçar Portugal a cumprir as resoluções da ONU. Nenhuma referência se fez também ao auxílio material (armas, dinheiro, ajuda técnica, etc.) que as potências colonialistas, sob o pretexto do cumprimento de pactos militares, vinham fornecendo a Portugal. E assim Portugal teve mãos livres para continuar a sua política de exterminação do povo angolano. Em Setembro de 1961, deu-se início à XVI Sessão da Assembleia-Geral da ONU cuja agenda de trabalhos era quase exclusivamente formada por questões relativas à colonização e descolonização. Como ponto separado e importante estava inscrita “Situação em Angola.” Na primeira parte da sessão (de Setembro a 20 de Dezembro de 1961) a questão angolana foi incluída no problema geral das colónias portuguesas e, por isso mesmo, debatida na Quarta Comissão da Assembleia-Geral. Naturalmente, a guerra de libertação que se travava em Angola influenciou a orientação dos debates, exigindo a necessidade de se condenar imediatamente o colonialismo português. A acção dos representantes afro-asiáticos e a influência dos demais Estados preocupados com a extinção urgente dos últimos vestígios do colonialismo conseguiram, na primeira parte da sessão, criar o precedente histórico da audiência de peticionários vindos das colónias portuguesas. Um africano expôs a situação na Guiné dita portuguesa. O colonialismo português perdeu assim uma das suas melhores armas – o silêncio, na ONU, da voz dos povos subjugados. Apesar da energia e da intenção anticolonialista dos Estados defensores da liberdade, as forças interessadas na opressão colonial impediram mais uma vez que os direitos fundamentais do povo angolano fossem defendidos através de medidas práticas de descolonização imediata. Com efeito, logo que em 15 de Janeiro se deu início à segunda parte da XVI sessão, o grupo afro-asiático, já então perante um projecto de resolução apresentado pela Polónia e Bulgária, iniciou uma intensa actividade de preparação de outro projecto que, sem abandonar a eficácia do projecto polaco-búlgaro, “limitasse a possibilidade de introduzir a ‘guerra fria’ na apreciação da situação em Angola” – como se dizia. O projecto afro-asiático que foi longamente trabalhado, teve em conta as sugestões do Movimento Popular de Libertação de Angola. Com efeito, o MPLA, quer nas declarações feitas pelo seu presidente diante do grupo afro-asiático, quer nos contactos directos com os delegados dos Estados-membros da ONU, o MPLA procurou dar máxima importância aos problemas concretos que estão na base da solução da questão angolana, tais como: a reafirmação solene do direito inalienável do povo angolano à independência completa; a cessação imediata das medidas de repressão e de exterminação do povo por parte de Portugal; a libertação imediata dos presos políticos angolanos, a obrigação de Portugal de adoptar imediatamente medidas urgentes para o exercício da independência. Apesar de o projecto ter sido aprovado sem nenhum voto contra no grupo afro-asiático, as potências aliadas de Portugal fizeram grandes manobras para levar os Estados africanos, asiáticos e sul-americanos a retirar da resolução final tudo o que pudesse constituir condenação enérgica de Portugal ou medida eficaz em favor da libertação imediata do povo angolano. Como resultado das manobras e pressões e com vista à obtenção de uma maioria esmagadora de votos na Assembleia-Geral, o próprio grupo afro-asiático foi levado a rever o seu projecto inicial, tornando-o mais mole. Infelizmente, não foram poucos os Estados africanos e asiáticos que, depois de terem admitido alterações na reunião de revisão do projecto, permitiram ainda, na Assembleia-Geral, a eliminação de passagens importantes que estavam no projecto revisto. Como resultado dessa quebra de firmeza por parte de certos Estados, a resolução final limitou-se a reafirmar solenemente o direito inalienável do povo angolano à livre determinação e à independência; reprovou vivamente as medidas portuguesas de opressão total, repressão e acção armada contra o povo angolano. A Assembleia-Geral decidiu manter em funções a sub-comissão encarregada de examinar a situação em Angola, que tinha sido criada pela resolução 1603 (XV). Além disso, a resolução, em vez de condenar Portugal pelos crimes já cometidos e em vez de impedir, por meio de sanções, a continuação da política de exterminação seguida por aquele país, limitou-se a pedir, solicitar, lançar apelos e convites às autoridades portuguesas como se já não fosse mais do que sabido que o governo fascista português não conhece nem pode conhecer outra linguagem além da força. Foi recomendado também ao Conselho de Segurança que seguisse constantemente a evolução da situação geral em Angola. Actualmente, portanto, há dois órgãos que se ocupam da questão de Angola na ONU: o Comité dos 17, criado pela resolução 1654 (XVI) e constituído pelos Estados Unidos, União Soviética, Polónia, Jugoslávia, Mali, Inglaterra, Itália, Austrália, Uruguai, Venezuela, Índia, Cambodja, Síria, Etiópia, Madagáscar, Tanganica e Tunísia, e a Sub-Comissão dos 5, mantida pela última resolução, constituída pela Bolívia, o Daomé, a Federação da Malásia, a Finlândia e o Sudão. * * * * * Quanto à colaboração com os representantes dos diferentes partidos angolanos que estiveram na ONU, temos a dizer que, infelizmente, ela não houve. Apesar de o grupo afro-asiático ter feito propostas e ter feito esforços para que os diferentes partidos angolanos aparecessem na ONU em colaboração, o presidente da UPA apresentou perante esse mesmo grupo a sua conhecida oposição a toda a colaboração. Com efeito, o principal argumento apresentado pelo presidente da UPA perante o grupo afro-asiático contra a ideia de colaboração com o MPLA, foi o de que “o principal perigo de Angola são os mestiços”, e que o MPLA admitia nas suas fileiras mestiços angolanos. Está provado que o presidente da UPA vê nos 30.000 mestiços angolanos os seus principais inimigos e vê nos 300.000 portugueses de Angola (que monopolizam efectivamente, em suas mãos, o poder político, militar, económico e cultural da colónia) elementos com que ele pode chegar a um compromisso para liquidar aquele “principal perigo”. É claro o carácter frágil e suspeitoso do patriotismo do presidente da UPA. É evidente que, não tendo hesitado em proclamar uma política com base racial, o presidente da UPA arrasta o seu partido para uma política de genocídio contra um grupo racial angolano, política que acabaria por desprestigiar totalmente a UPA e por prejudicar o nacionalismo angolano. Esteve igualmente na ONU uma delegação do PDA (ex-ALLIAZO), mas com a qual a delegação do MPLA não teve a feliz ocasião de se encontrar – certamente por ter regressado a Léopoldville antes da chegada da nossa delegação – pois estamos convencidos de que a colaboração entre os nossos dois partidos foi e será sempre possível, na base do patriotismo, do respeito mútuo, da amizade e dos interesses comuns na luta contra o inimigo comum: o colonialismo português. * * * * * Tendo em conta que a evolução geral da batalha que se vem travando na ONU contra o colonialismo português é favorável ao povo angolano, e considerando que, embora lento e difícil, o trabalho dessa organização mundial agita o problema de Angola, desmascara os colonialistas portugueses, tende a neutralizar a acção dos aliados de Portugal e mobiliza, em favor do nosso povo, a solidariedade internacional, tendo tudo isto em consideração, tarefas importantes impõem-se às organizações nacionalistas angolanas. É evidente que, diante da teimosia portuguesa em não aplicar imediatamente as últimas resoluções da ONU, a luta de libertação do povo angolano prosseguirá em todas as frentes. Sem dúvida, a luta política e a luta militar são as mais importantes. Portugal e os seus aliados adoptaram e adoptarão sempre, como táctica principal, dividir o povo angolano nos planos político, militar, populacional, religioso, etc. A manutenção do nacionalismo angolano em parcelas isoladas e rivais só pode, por conseguinte, alegrar e beneficiar os colonialistas. A união de todas as forças e de todas as acções do nacionalismo angolano constituiria, portanto, um golpe destruidor contra a arma número um do colonialismo: a divisão. A unidade das forças do nacionalismo angolano constituiria, ao mesmo tempo, como é evidente, uma arma mil vezes mais poderosa do que a força actual de qualquer partido político angolano isolado. A divisão do nacionalismo angolano (em termos que atingem, por vezes, a luta fratricida praticada pela UPA) está – é certo – condenada a desaparecer. O problema é apenas o de saber por que preço. Os que teimam na divisão – por motivos provadamente anti-patrióticos – exigem que a união inelutável do nacionalismo angolano se faça à custa de elevadíssimos sacrifícios do nosso povo. Por conseguinte, é evidente que o povo angolano não tolerará por muito tempo que falsos patriotas, em nome do monopólio do nacionalismo angolano, esbanjem as suas energias e abusem da sua confiança. Sem dúvida, dentro em breve a mão e a voz do povo levantar-se-ão para exigir que lutem unidos todas as forças, todos os homens, todos os partidos, todas as comunidades que terão o direito de viver e trabalhar unidos na Angola livre de amanhã. Até ao momento da Unidade, o MPLA, certo de seguir a vontade e a moral do povo, não poupará esforços para – sem pretensões ridículas – aumentar a resistência do povo em todas as frentes e para prosseguir a sua política em favor da Unidade. Que cada angolano patriota – seja qual for o seu partido, a sua religião ou a sua origem tribal – aja, com energia crescente, em favor dos interesses gerais e da vitória da luta do povo angolano.
«O MPLA na ONU»