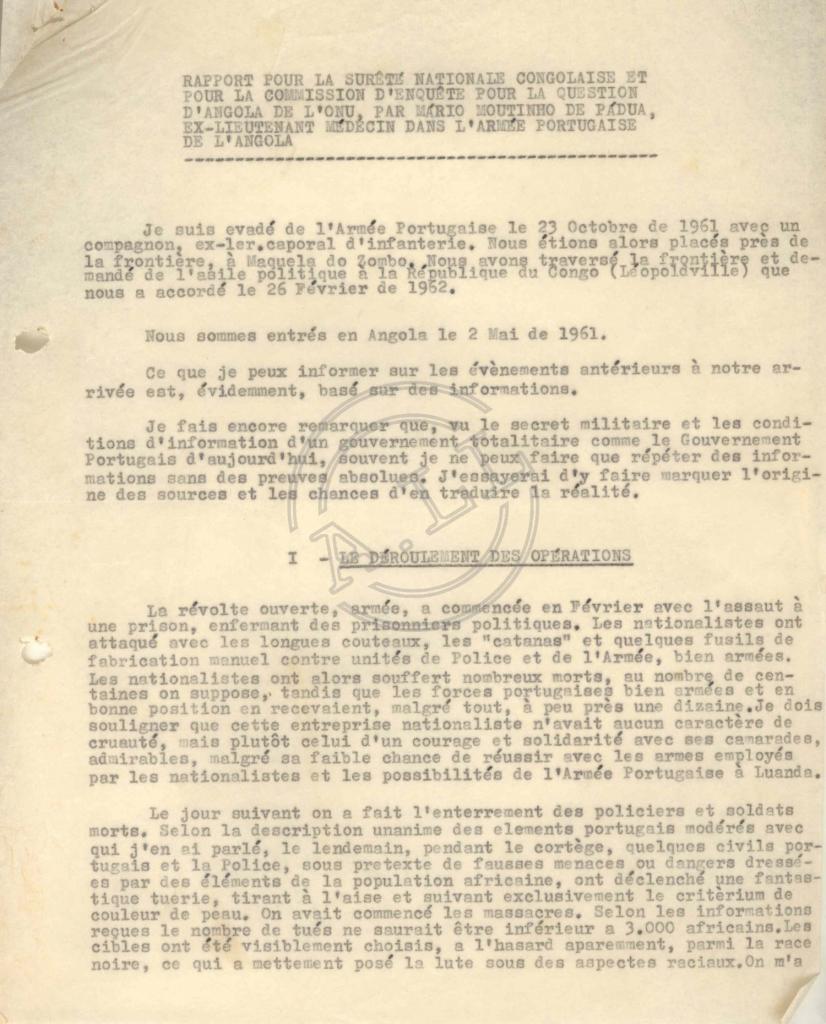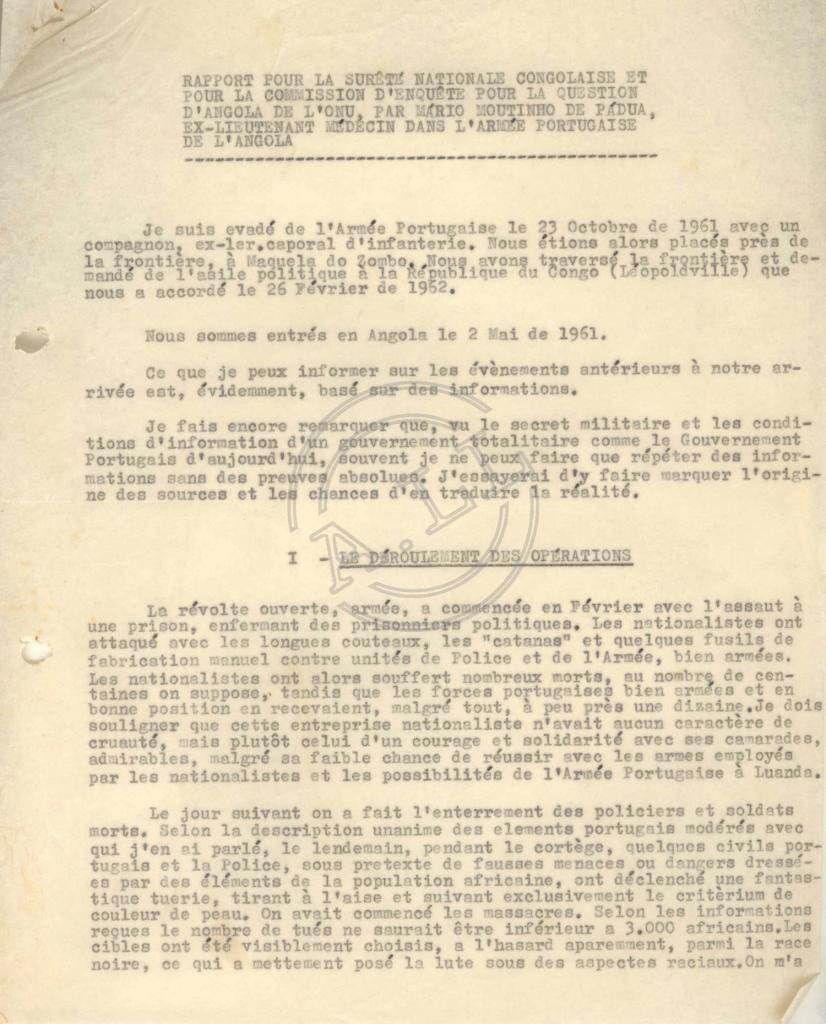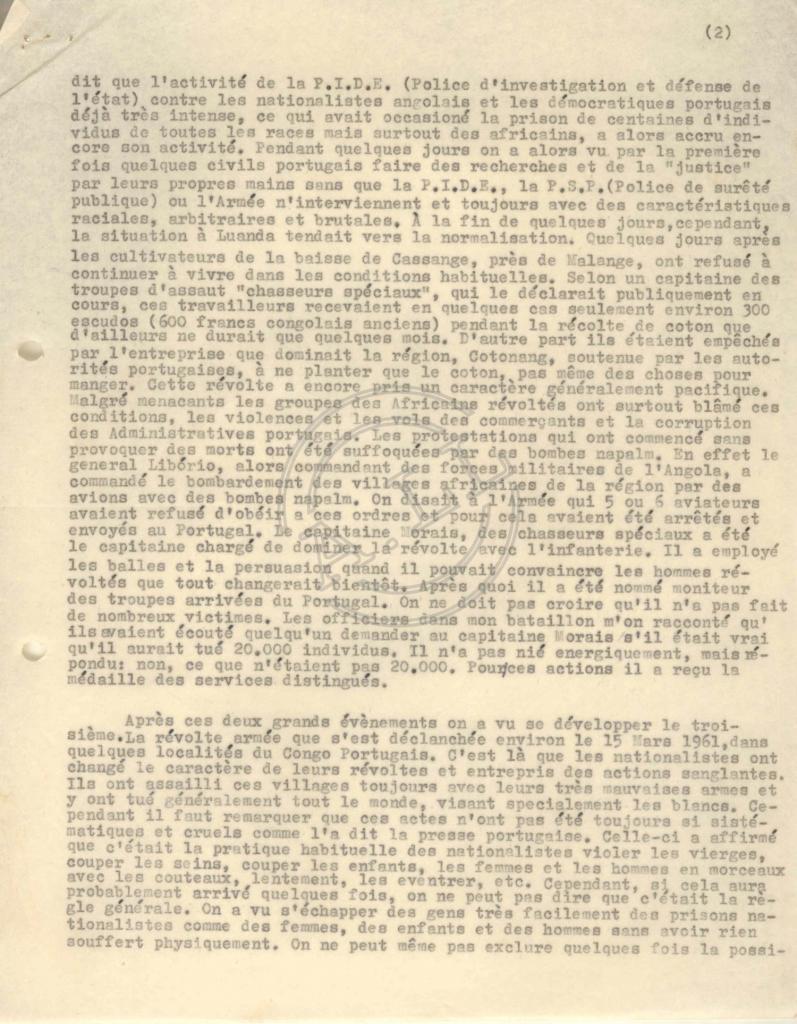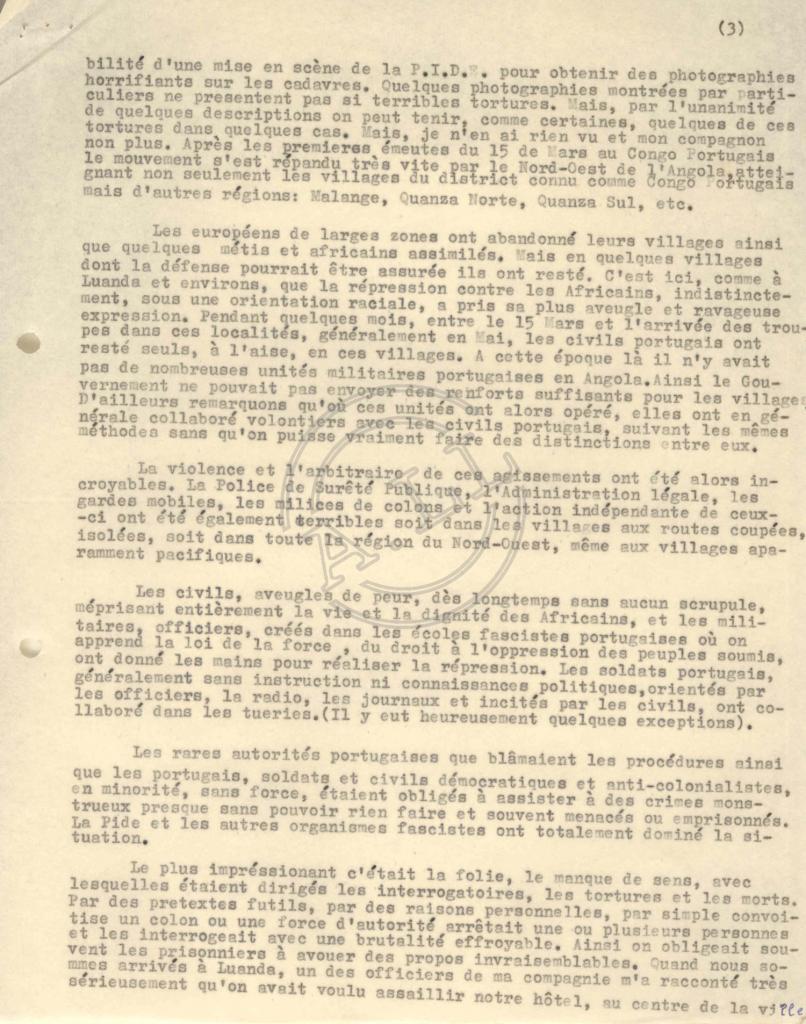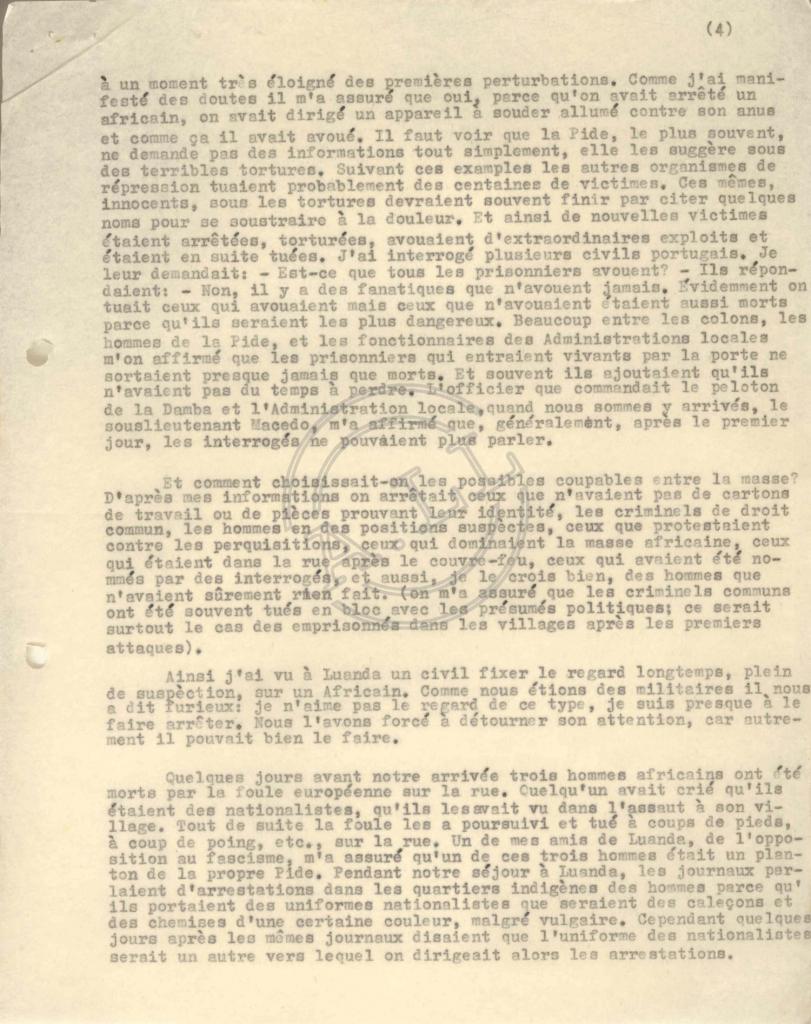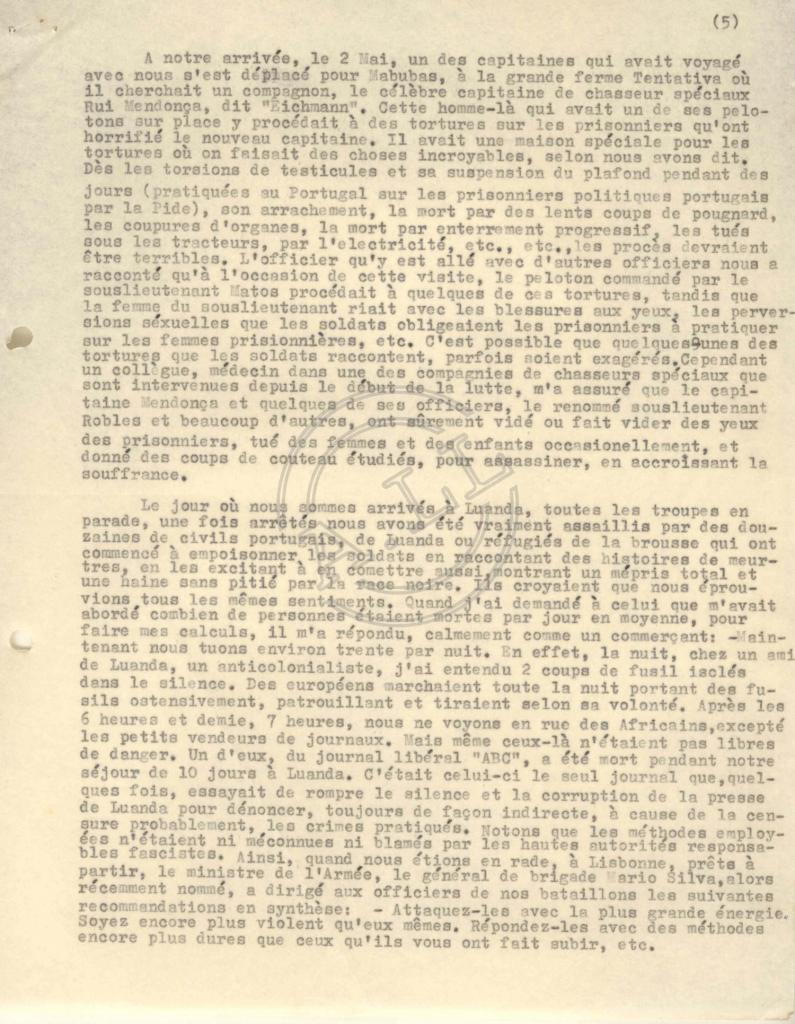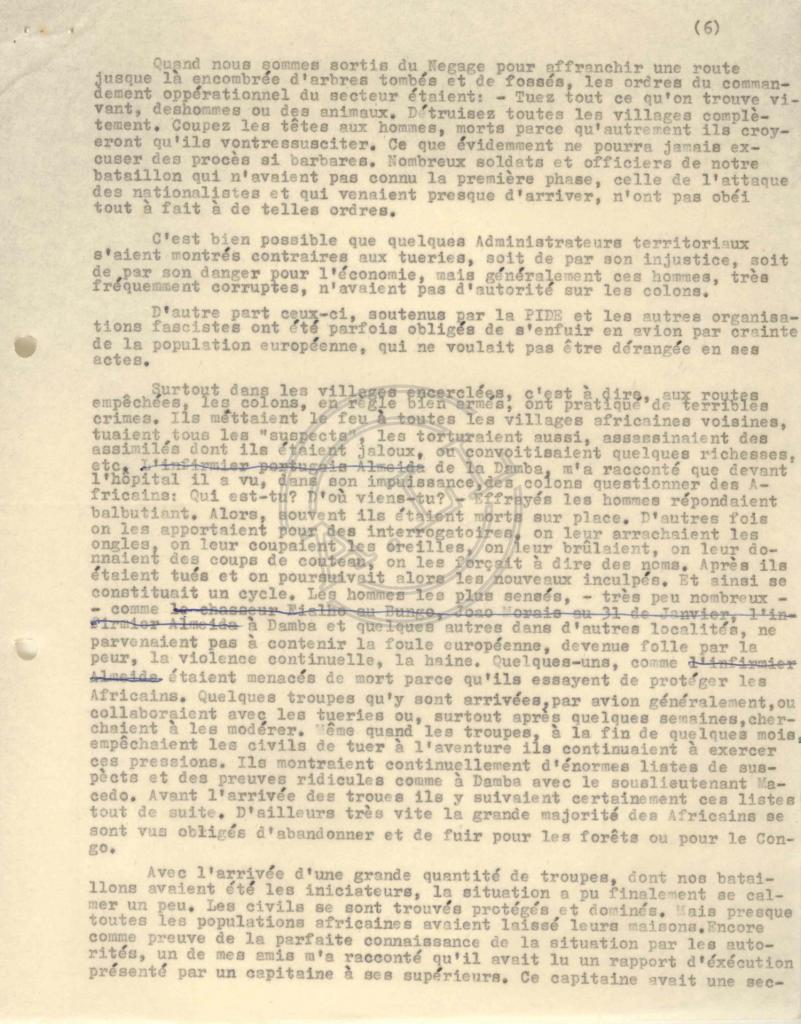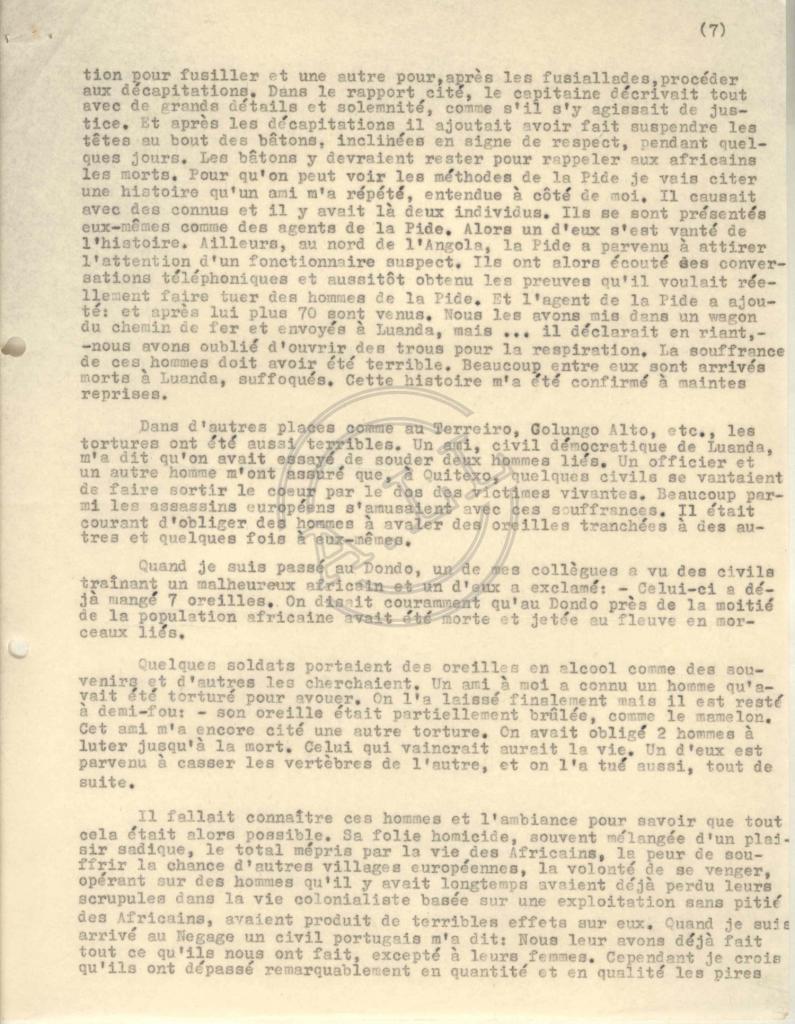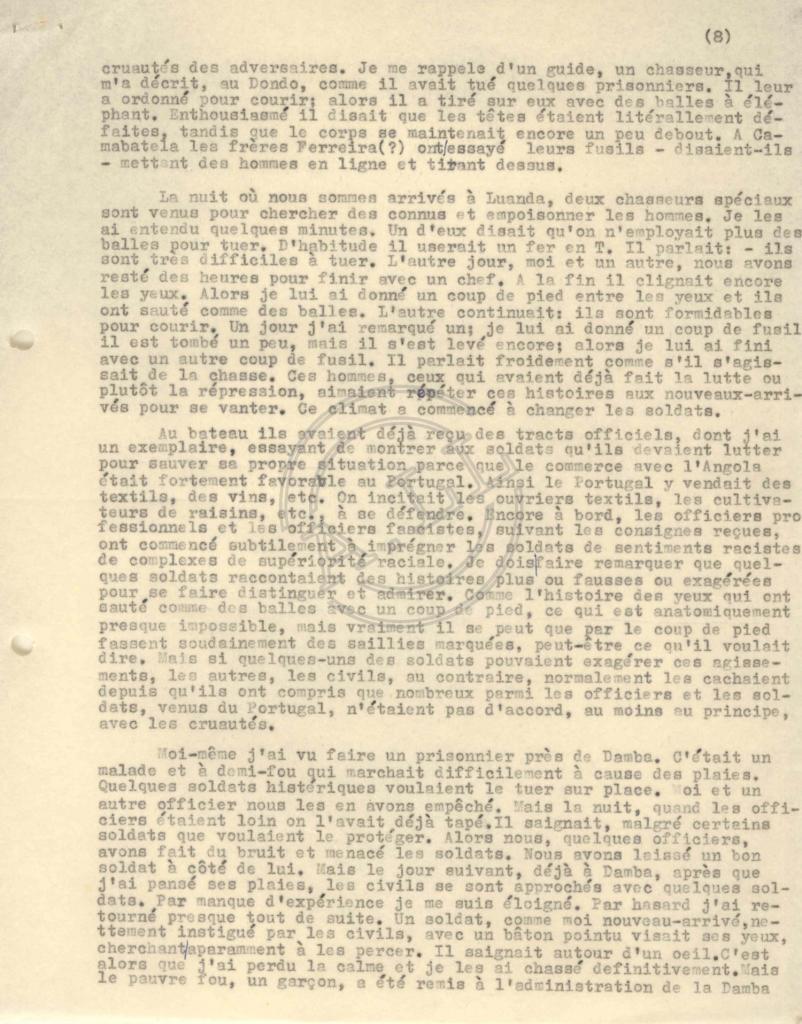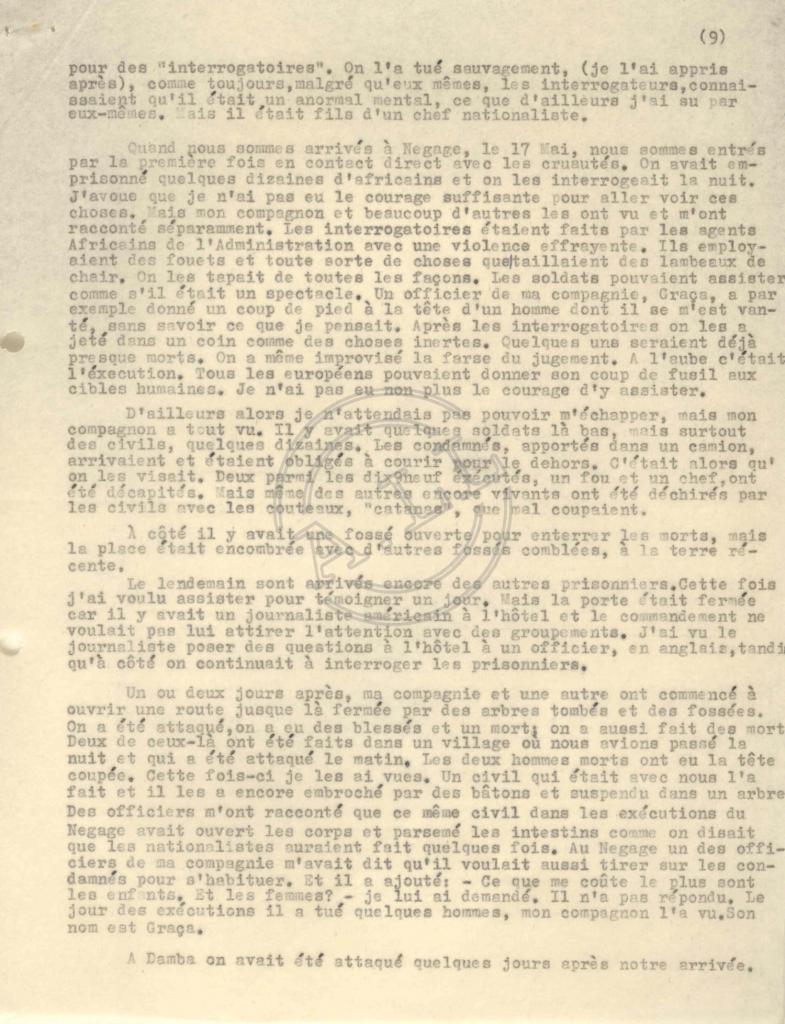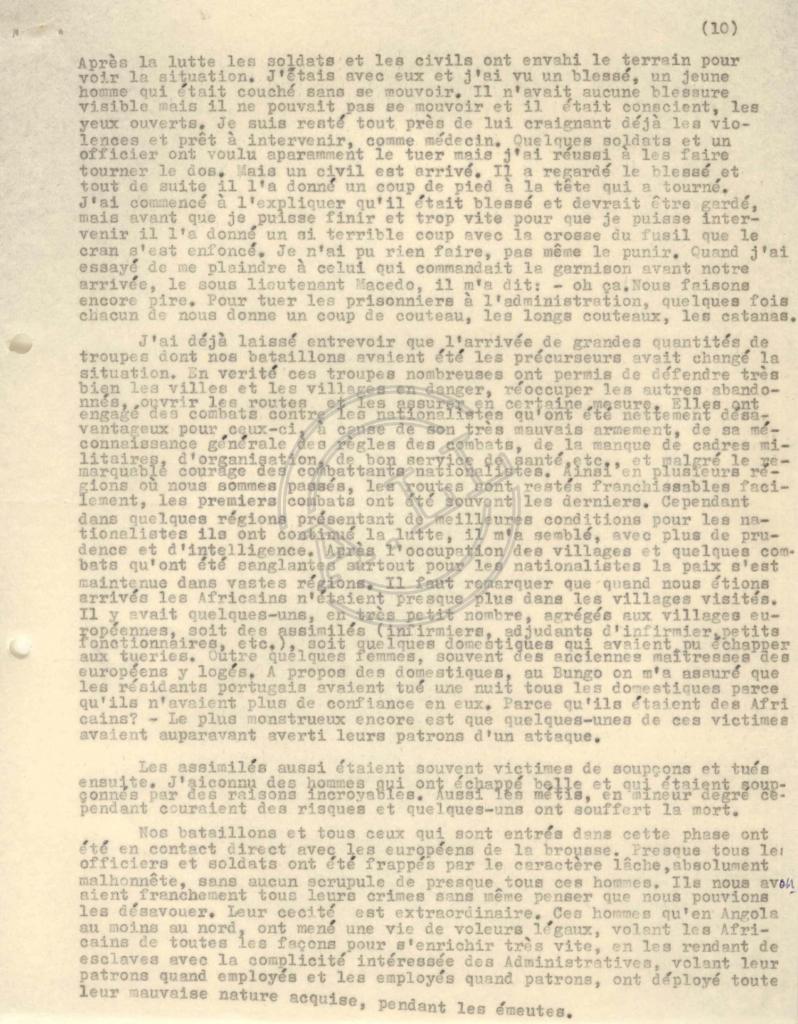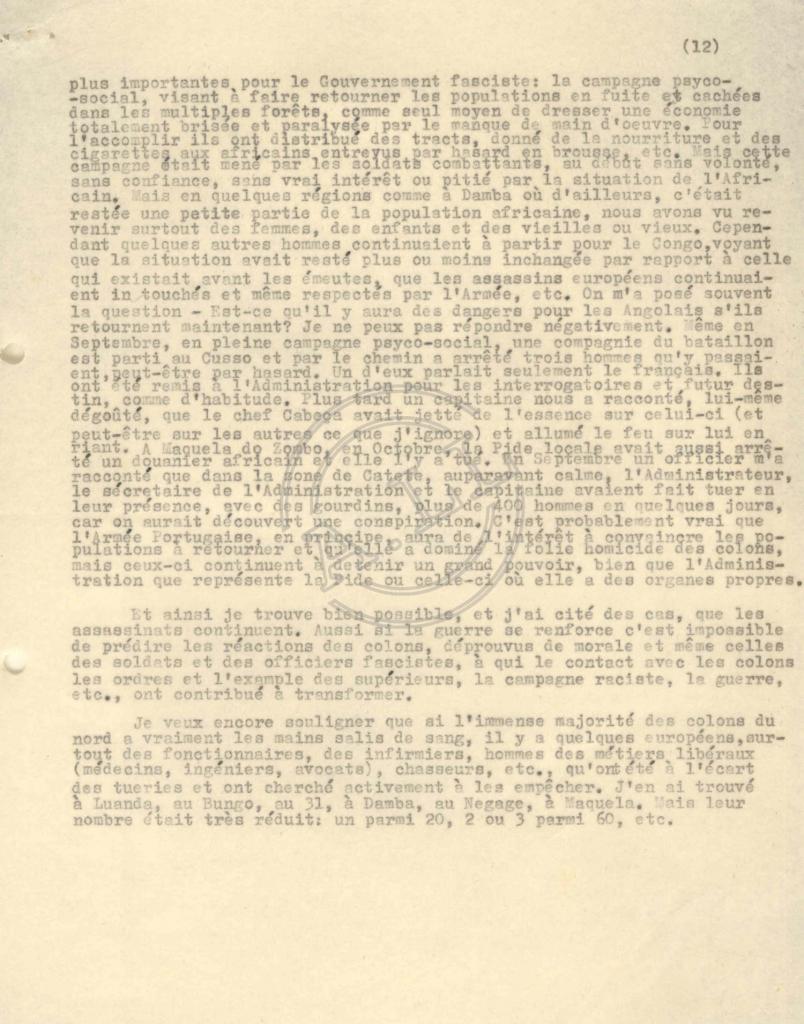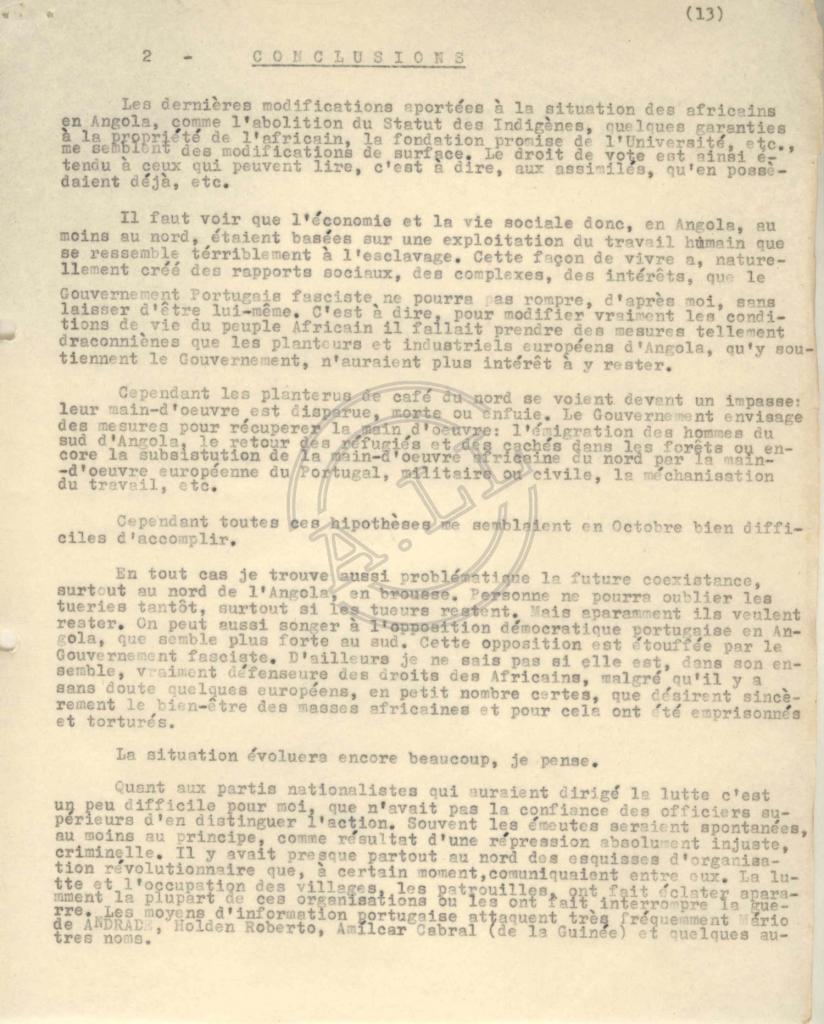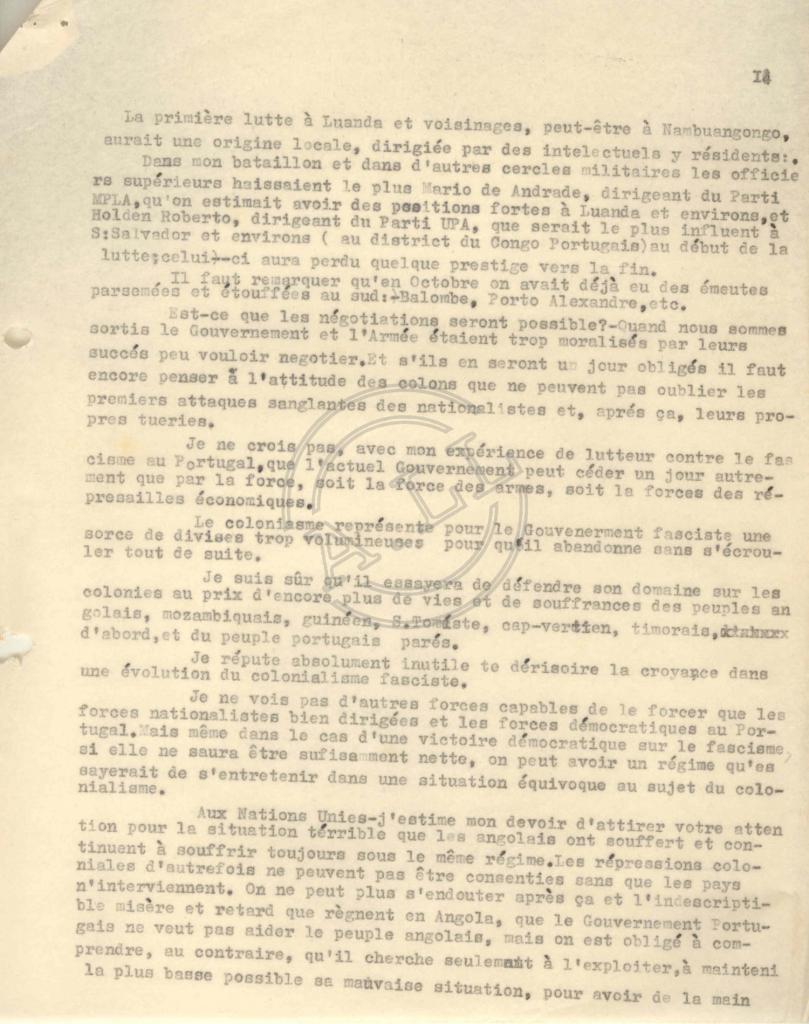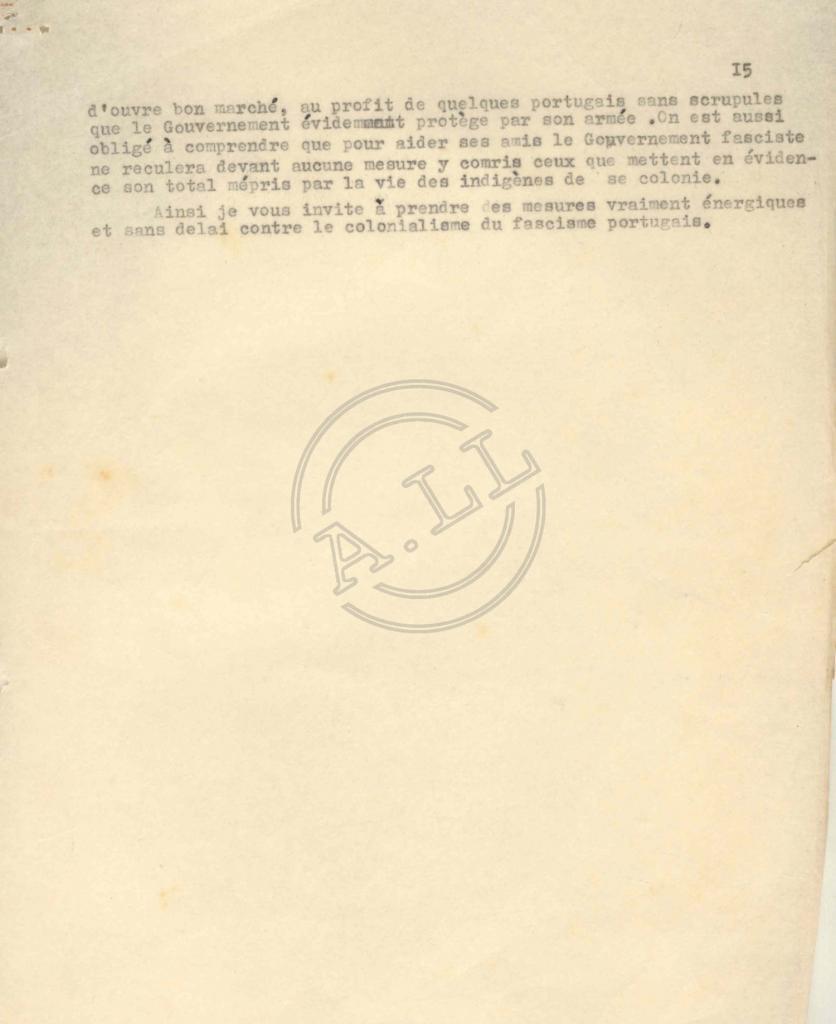Foi publicado no 2º volume de «Um amplo movimento…»
RELATÓRIO À SEGURANÇA CONGOLESA E À COMISSÃO DE INQUÉRITO PARA A QUESTÃO DE ANGOLA DA ONU, POR MÁRIO MOUTINHO DE PÁDUA, EX-ALFERES MÉDICO NO EXÉRCITO PORTUGUÊS DE ANGOLA1 Evadi-me do Exército Português a 23 de Outubro de 1961 com um companheiro, ex-1º Cabo de infantaria. Estávamos então colocados perto da fronteira, em Maquela do Zombo. Atravessámos a fronteira e pedimos asilo político à República do Congo (Léopoldville) que nos foi concedido no dia 26 de Fevereiro de 1962. Entrámos em Angola a 2 de Maio de 1961. O que eu posso informar sobre os acontecimentos anteriores à nossa chegada é, evidentemente, baseado em informações. Chamo ainda a atenção para o facto de, devido ao segredo militar e às condições de informação de um governo totalitário como o actual Governo Português, muitas vezes apenas posso repetir informações sem provas absolutas. Tentarei referir a origem das fontes e as probabilidades de traduzirem a realidade. I – O DESENROLAR DAS OPERAÇÕES A revolta aberta, armada, começou em Fevereiro com o assalto a uma prisão, onde estavam encarcerados presos políticos. Os nacionalistas atacaram com facas compridas, as “catanas” e algumas espingardas de fabrico manual, contra unidades da Polícia e do Exército, bem armadas. Os nacionalistas sofreram então numerosas baixas, provavelmente centenas ao que se supõe, enquanto as forças portuguesas bem armadas e em boa posição tiveram, apesar de tudo, cerca de uma dezena. Tenho de sublinhar que este empreendimento nacionalista não tinha nenhum carácter de crueldade, mas antes o de uma coragem e solidariedade admiráveis para com os seus camaradas, apesar da fraca hipótese de sucesso com as armas empregues pelos nacionalistas e as possibilidades do Exército Português em Luanda. No dia seguinte, fez-se o enterro dos polícias e dos soldados mortos. Segundo a descrição unânime dos elementos portugueses moderados com quem falei, no dia seguinte, durante o cortejo, alguns civis portugueses e a Polícia, sob falso pretexto de ameaças ou perigos preparados por elementos da população africana, desencadearam uma fantástica matança, atirando à vontade e seguindo exclusivamente o critério da cor da pele. Tinham começado os massacres. Segundo as informações recebidas, o número de mortos não terá sido inferior a 3.000 africanos. Os alvos foram visivelmente escolhidos, aparentemente ao acaso, entre a raça negra, o que colocou nitidamente a luta sob um aspecto racial. Disseram-me que a actividade da PIDE (Polícia de Investigação e Defesa do Estado) [sic] já muito intensa contra os nacionalistas angolanos e os democratas portugueses, o que tinha ocasionado a prisão de centenas de indivíduos de todas as raças mas sobretudo africanos, aumentou ainda mais. Durante alguns dias viu-se então, pela primeira vez, alguns civis portugueses fazerem buscas e “justiça” pelas suas próprias mãos sem que a PIDE, a PSP (Polícia de Segurança Pública) ou o Exército interviessem e sempre com características raciais, arbitrárias e brutais. Ao fim de alguns dias, no entanto, a situação em Luanda tendia a normalizar. Alguns dias depois, os camponeses da baixa de Cassange, perto de Malange, recusaram continuar a viver nas condições habituais. Segundo declarou publicamente um capitão de tropas de assalto “caçadores especiais”, esses trabalhadores recebiam nalguns casos, apenas cerca de 300 escudos (600 francos congoleses antigos) durante a colheita de algodão que aliás durava só alguns meses. Por outro lado, eram obrigados, pela empresa que dominava a região, a Cotonang, apoiada pelas autoridades portuguesas, a plantar apenas algodão e nem sequer coisas para comer. Essa revolta também tomou no geral um carácter pacífico. Apesar de ameaçadores, os grupos de Africanos revoltados condenavam sobretudo essas condições, as violências e os roubos dos comerciantes e a corrupção dos Administrativos portugueses. Os protestos que começaram sem provocar mortos foram sufocados com bombas de napalm. Com efeito, o general Libório, então comandante das forças militares de Angola, ordenou o bombardeamento das aldeias africanas da região por aviões com bombas de napalm. Dizia-se no Exército que 5 ou 6 aviadores tinham-se recusado a obedecer a essas ordens e por isso tinham sido presos e enviados para Portugal. O capitão Morais, dos caçadores especiais, foi o capitão encarregue de dominar a revolta com a infantaria. [...] Depois desses dois grandes acontecimentos, assistiu-se ao desenrolar do terceiro, a revolta armada que se desencadeou por volta de 15 de Março de 1961, nalgumas localidades do Congo Português. Foi aí que os nacionalistas mudaram o carácter das suas revoltas e levaram a cabo acções sangrentas. Assaltaram essas povoações, sempre com as suas fracas armas e aí mataram, de uma maneira geral, toda a gente, visando especialmente os brancos. No entanto, é preciso notar que esses actos nem sempre foram tão sistemáticos e cruéis como disse a imprensa portuguesa. Esta afirmou que era prática corrente dos nacionalistas violarem as virgens, cortarem os seios, cortarem as crianças, as mulheres e os homens em pedaços com as catanas, lentamente, esventrá-los, etc. No entanto, se isso aconteceu provavelmente algumas vezes, não se pode dizer que fosse a regra geral. Viram-se pessoas a fugirem muito facilmente das prisões nacionalistas, mulheres, crianças e homens sem terem sofrido nada fisicamente. Não se pode sequer excluir algumas vezes a possibilidade de uma encenação da PIDE para obter fotografias horripilantes dos cadáveres. Algumas fotografias mostradas por particulares não apresentam torturas tão terríveis. Mas, por unanimidade de algumas descrições, pode-se considerar como certas algumas dessas torturas em alguns casos. Mas eu não vi nada, e o meu companheiro também não. Depois dos primeiros tumultos de 15 de Março no Congo Português, o movimento expandiu-se muito rapidamente pelo Noroeste de Angola, atingindo não só as povoações do distrito conhecido como Congo Português, mas também outras regiões: Malange, Quanza Norte, Quanza Sul, etc. Em extensas zonas, os europeus abandonaram as suas povoações assim como alguns mestiços e africanos assimilados. Mas em algumas povoações cuja defesa poderia ser assegurada, eles ficaram. Foi aí, como em Luanda e arredores, que a repressão contra os Africanos, indistintamente, com uma orientação racial, tomou a sua forma mais cega e devastadora. Durante alguns meses, entre 15 de Março e a chegada das tropas a essas localidades, no geral em Maio, os civis portugueses ficaram sozinhos, à vontade, nessas povoações. Nessa época, não havia muitas unidades militares portuguesas em Angola. Assim o Governo não podia enviar reforços suficientes para as povoações. Aliás podemos reparar que onde essas unidades operaram na altura, geralmente colaboraram de boa vontade com os civis portugueses, seguindo os mesmos métodos, sem que se possa de facto fazer uma distinção entre eles. A violência e a arbitrariedade desses actos foram então incríveis. A Polícia de Segurança Pública, a Administração, as companhias móveis, as milícias dos colonos e a acção independente destes foram igualmente terríveis tanto nas povoações com estradas cortadas e isoladas, como em toda a região Noroeste, mesmos nas localidades aparentemente pacíficas. Os civis, cegos de medo, desde há muito sem escrúpulos, menosprezando completamente a vida e a dignidade dos Africanos, e os militares, oficiais educados em escolas fascistas portuguesas, onde se aprende a lei da força, do direito à opressão dos povos submetidos, deram as mãos para realizar a repressão. Os soldados portugueses, geralmente sem instrução nem conhecimentos políticos, orientados pelos oficiais, a rádio, os jornais e incitados pelos civis, colaboraram nas matanças. (Houve felizmente algumas excepções). As raras autoridades portuguesas que condenavam os procedimentos, bem como os portugueses, militares e civis democratas e anti-colonialistas em minoria, sem força, eram obrigados a assistir a crimes monstruosos quase sem poder fazer nada e muitas vezes ameaçados ou presos. A Pide e os outros organismos fascistas dominaram totalmente a situação. O mais impressionante era a loucura, a falta de sentido, com que eram conduzidos os interrogatórios, as torturas e as mortes. Por pretextos fúteis, por razões pessoais, por simples cobiça, um colono ou um agente da autoridade prendia uma ou várias pessoas e interrogava-as com uma brutalidade aterradora. Assim, obrigavam-se muitas vezes os presos a confessar propósitos incríveis. Quando chegámos a Luanda, um dos oficiais da minha companhia contou-me, muito a sério, que tinham querido assaltar o nosso hotel, no centro da cidade, muito antes das primeiras confusões. Como duvidei, ele assegurou-me que sim, porque tinham prendido um africano, tinham-lhe dirigido para o ânus um aparelho de soldar aceso e assim ele tinha confessado. É preciso ver que a Pide, a maior parte das vezes, não pede simplesmente informações, ela sugere-as sob terríveis torturas. Seguindo esses exemplos, os outros órgãos de repressão mataram provavelmente centenas de vítimas. Estas, inocentes, sob as torturas terão muitas vezes acabado por citar alguns nomes para reduzir o sofrimento. E assim novas vítimas eram presas, torturadas, confessavam feitos extraordinários e eram mortos em seguida. Interroguei vários civis portugueses. Perguntava-lhes: – Todos esses presos confessam? – Eles respondiam: – Não, há fanáticos que nunca confessam. Evidentemente que matavam os que confessavam, mas os que não confessavam também eram mortos porque seriam os mais perigosos. Muitos dos colonos, dos homens da Pide e dos funcionários das Administrações locais afirmaram-me que os prisioneiros que entravam vivos pela porta, quase sempre saíam mortos. E muitas vezes acrescentavam que não tinham tempo a perder. O oficial que comandava o pelotão da Damba e a Administração local quando lá chegámos, o Alferes Macedo, afirmou-me que, geralmente, depois do primeiro dia, os interrogados já não conseguiam falar. E como se escolhiam os possíveis culpados entre a massa? De acordo com as minhas informações, prendiam-se os que não tinham cartões de trabalho ou um documento que provasse a sua identidade, os criminosos de delito comum, os homens em posições sociais suspeitas, os que protestavam contra as perseguições, os que tinham autoridade sobre as massas africanas, os que estavam na rua depois do recolher obrigatório, os que tinham sido indicados por interrogados, e também, penso eu, homens que seguramente nada tinham feito. (Asseguraram-me que os criminosos comuns foram muitas vezes mortos em bloco com os presumíveis políticos; seria sobretudo o caso dos presos nas povoações depois dos primeiros ataques). [...] À nossa chegada, dia 2 de Maio, um dos capitães que tinha viajado connosco deslocou-se às Mabubas, à grande fazenda Tentativa onde foi procurar um companheiro, o célebre capitão de caçadores especiais Rui Mendonça, dito “Eichmann”. Esse homem, que tinha um dos seus pelotões no local, procedia aí a torturas em prisioneiros que horrorizaram o novo capitão. [...] É possível que algumas torturas contadas pelos soldados às vezes sejam exageradas. No entanto um colega, médico numa das companhias de caçadores especiais que intervieram desde o início da luta, assegurou-me que o capitão Mendonça e alguns dos seus oficiais, o afamado alferes Robles e muitos outros, certamente arrancaram ou fizeram arrancar olhos a prisioneiros, mataram mulheres e crianças, ocasionalmente, e deram facadas estudadas para assassinar aumentando o sofrimento. No dia em que chegámos a Luanda, todas as tropas em parada, fomos literalmente assaltados por dúzias de civis portugueses, de Luanda ou refugiados do mato, que começaram a envenenar os soldados, contando histórias de assassinatos, incitando-os a cometê-los também, mostrando um desprezo total e um ódio sem piedade pela raça negra. Pensavam que partilhávamos todos os mesmos sentimentos. Quando perguntei, ao que me abordou, quantas pessoas eram mortas em média por dia, para fazer os meus cálculos, ele respondeu-me, calmamente como um comerciante: – Agora matamos cerca de trinta por noite. De facto, à noite, em casa de um amigo em Luanda, um anti-colonialista, ouvi 2 tiros isolados – no silêncio. Europeus andavam toda a noite levando ostensivamente espingardas, patrulhando e atirando à vontade. Depois das 6 e meia, 7 horas, não se vêem nas ruas africanos, excepto os pequenos vendedores de jornais. Mas mesmo esses não estavam livres de perigo. Um deles, do jornal liberal “ABC”, foi morto durante a nossa estadia de 10 dias em Luanda. Era esse o único jornal que, algumas vezes, tentava romper o silêncio e a corrupção da imprensa de Luanda para denunciar os crimes praticados, sempre de forma indirecta, provavelmente por causa da censura. Notemos que os métodos empregues não eram desconhecidos nem condenados pelas altas autoridades fascistas responsáveis. Assim, quando estávamos no cais, em Lisboa, prontos a partir, o ministro do Exército, o general de brigada Mário Silva, então recentemente nomeado, dirigiu aos oficiais dos nossos batalhões as seguintes recomendações em síntese: – Ataquem-nos com a maior energia. Sejam ainda mais violentos que eles. Respondam-lhes com métodos ainda mais duros que aqueles que eles vos infligiram, etc. Quando saímos do Negage para libertar uma estrada até aí obstruída por árvores caídas e por valas, as ordens do comando operacional do sector foram: – Matem tudo o que está vivo, homens ou animais. Destruam completamente todas as aldeias. Cortem as cabeças aos homens mortos porque senão eles acreditam que vão ressuscitar. Isto evidentemente nunca poderá explicar processos tão bárbaros. Muitos soldados e oficiais do nosso batalhão que não tinham conhecido a primeira fase, a do ataque dos nacionalistas e que acabavam de chegar, não obedeceram totalmente a tais ordens. É muito provável que alguns Administradores se tenham mostrado contra as matanças, fosse pela sua injustiça, fosse pelo perigo para a economia, mas de uma forma geral esses homens, muito frequentemente corruptos, não tinham autoridade sobre os colonos. Por outro lado, sendo estes apoiados pela PIDE e as outras organizações fascistas, aqueleles foram algumas vezes obrigados a fugir de avião com receio da população europeia, que não queria ser incomodada nos seus actos. Sobretudo nas povoações cercadas, quer dizer, com as estradas obstruídas, os colonos, em geral bem armados, praticaram terríveis crimes. Incendiavam todas as aldeias africanas vizinhas, matavam todos os “suspeitos”, também os torturavam, assassinavam assimilados de quem tinham inveja ou cobiçavam algumas riquezas, etc. O enfermeiro português Almeida, da Damba, contou-me que em frente ao hospital viu, impotente, colonos interrogarem Africanos: Quem és tu? De onde vens? – Apavorados, os homens respondiam balbuciando. Então, muitas vezes, eram mortos ali mesmo. Outras vezes, eram levados para interrogatórios, arrancavam-lhes as unhas, cortavam-lhes as orelhas, queimavam-nos, esfaqueavam-nos, forçavam-nos a dizer nomes. Depois, eram mortos e perseguiam-se então novos acusados. E assim se constituía um ciclo. Os homens mais sensatos – muito poucos – como o caçador Fialho no Bungo, João Morais no 31 de Janeiro, o enfermeiro Almeida na Damba e alguns outros noutras localidades, não conseguiam conter a multidão europeia, enlouquecida pelo medo, a violência contínua e o ódio. Alguns, como o enfermeiro Almeida, eram ameaçados de morte porque tentavam proteger os Africanos. Algumas tropas que ali chegaram, geralmente de avião, ou colaboravam com as matanças ou, sobretudo depois de algumas semanas, procuravam moderá-las. Mesmo quando as tropas, ao fim de alguns meses, impediam os civis de matar à toa, eles continuavam a exercer pressões. Apresentavam continuamente enormes listas de suspeitos e provas ridículas como na Damba com o alferes Macedo. Antes da chegada das tropas, certamente seguiam logo essas listas. Aliás, muito rapidamente a grande maioria dos Africanos viu-se obrigada a abandonar e a fugir para as matas ou para o Congo. Com a chegada de uma grande quantidade de tropas, das quais os nossos batalhões tinham sido os primeiros, a situação pôde finalmente acalmar um pouco. Os civis sentiram-se protegidos e dominados. Mas praticamente todas as populações africanas tinham deixado as suas casas. Ainda como prova de perfeito conhecimento da situação pelas autoridades, um dos meus amigos contou-me que tinha lido um relatório de execução apresentado por um capitão aos seus superiores. Esse capitão tinha uma secção para fuzilar e outra para, depois do fuzilamento, proceder às decapitações. No relatório citado, o capitão descrevia tudo com grandes detalhes e solenidade, como se se tratasse de justiça. E depois das decapitações, ele acrescentava que tinha mandado espetar as cabeças na ponta de paus, inclinadas em sinal de respeito, durante alguns dias. Os paus deveriam permanecer ali para recordar, aos africanos, os mortos. Para que se possam ver os métodos da Pide, vou citar uma história que um amigo me repetiu, ouvida ao meu lado. Ele conversava com conhecidos e havia dois indivíduos. Apresentaram-se como sendo agentes da Pide. Então um deles gabou-se da história. Algures, no Norte de Angola, a Pide conseguiu chamar a atenção sobre um funcionário suspeito. Ouviram então conversas telefónicas e logo obtiveram provas de que ele realmente queria mandar matar homens da Pide. E o agente da PIDE acrescentou: e depois dele, mais 70 vieram. Pusemo-los num vagão do caminho-de-ferro e enviámo-los para Luanda, mas.... dizia a rir, – esquecemo-nos de abrir buracos para respirarem. O sofrimento desses homens deve ter sido terrível. Muitos deles chegaram mortos a Luanda, sufocados. Essa história foi-me confirmada em várias ocasiões. Em outros locais como no Terreiro, no Golungo Alto, etc., as torturas também foram terríveis. [...] Dizia-se correntemente que no Dondo cerca de metade da população africana tinha sido morta e atirada ao rio, em pedaços amarrados. Alguns soldados levavam orelhas em álcool como lembranças e outros procuravam-nas. Um amigo meu conheceu um homem que tinha sido torturado para confessar. Por fim, soltaram-no, mas ficou meio louco: a sua orelha foi parcialmente queimada, assim como o mamilo. Esse amigo ainda me citou uma outra tortura. Obrigaram dois homens a lutarem até à morte. Aquele que vencesse ficaria em vida. Um deles conseguiu partir as vértebras do outro e também foi logo morto. É preciso conhecer esses homens e o ambiente para saber que tudo isso era então possível. A sua loucura homicida, muitas vezes misturada com um prazer sádico, o total desprezo pela vida dos Africanos, o medo de sofrer o destino de outras povoações europeias, a vontade de se vingar, operando em homens que há muito já tinham perdido os escrúpulos na vida colonialista baseada numa exploração impiedosa dos Africanos, tinham produzido neles efeitos terríveis. Quando cheguei ao Negage, um civil português disse-me: Já lhes fizemos tudo o que eles nos fizeram, excepto às mulheres deles. No entanto, acho que ultrapassaram notavelmente, em quantidade e em qualidade, as piores crueldades dos adversários. Recordo-me de um guia, um caçador, que me descreveu, no Dondo, como tinha morto alguns prisioneiros. Mandou-os que corressem; depois atirou sobre eles com balas para elefante. Entusiasmado dizia que as cabeças eram literalmente desfeitas, enquanto que os corpos ainda se mantinham de pé, algum tempo. Em Camabatela, os irmãos Ferreira (?) experimentaram as suas espingardas – diziam eles – alinhando homens e disparando sobre eles. [...] Quando chegámos ao Negage, a 17 de Maio, entrámos pela primeira vez em contacto directo com as crueldades. Tinham prendido algumas dezenas de africanos e eram interrogados à noite. Confesso que não tive coragem suficiente para ir ver essas coisas. Mas o meu companheiro e muitos outros viram-nas e contaram-mas, separadamente. Os interrogatórios eram feitos pelos agentes africanos da Administração com uma violência assustadora. Utilizavam chicotes e todo o tipo de coisas que retalhavam a carne. Batiam-lhes de todas as maneiras. Os soldados podiam assistir como se fosse um espectáculo. Um oficial da minha companhia, Graça, por exemplo, deu um pontapé na cabeça de um homem, do que se gabou sem saber o que eu pensava disso. Depois dos interrogatórios, foram atirados para um canto como coisas inertes. Alguns já estariam quase mortos. Até se improvisou a farsa do julgamento. De madrugada era a execução. Todos os europeus podiam dar o seu tiro nos alvos humanos. Também não tive coragem de assistir. Aliás, na altura não esperava poder escapar, mas o meu companheiro viu tudo. Havia alguns soldados, mas sobretudo civis, algumas dezenas. Os condenados, trazidos num camião, chegavam e eram obrigados a correr. Era então que se fazia pontaria. Dois de entre os dezanove executados, um louco e um chefe, foram decapitados. Mas mesmo os outros ainda vivos foram retalhados pelos civis com as catanas que mal cortavam. Ao lado havia uma vala aberta para enterrar os mortos mas o local estava pejado de outras valas atulhadas, com a terra ainda fresca. No dia seguinte chegaram ainda mais prisioneiros. Desta vez quis assistir para um dia testemunhar. Mas a porta estava fechada porque havia um jornalista americano no hotel e o comando não queria chamar a sua atenção com ajuntamentos. Vi o jornalista fazer perguntas a um oficial no hotel, em inglês, enquanto ao lado se continuava a interrogar os prisioneiros. Um ou dois dias depois, a minha companhia e uma outra começaram a abrir uma estrada até então fechada por árvores caídas e valas. Fomos atacados, tivemos feridos e um morto; também fizemos mortos. Dois desses foram feitos numa povoação onde tínhamos passado a noite e que foi atacada de manhã. Os dois homens mortos tiveram a cabeça cortada. Desta vez vi-os. Um civil que estava connosco fê-lo e espetou-as em paus e pendurou-as numa árvore. Uns oficiais contaram-me que este mesmo civil, nas execuções do Negage, tinha aberto os corpos e espalhado os intestinos como, segundo se dizia, os nacionalistas teriam feito algumas vezes. No Negage, um dos oficiais da minha companhia disse-me que também queria atirar sobre os condenados para se habituar. E acrescentou: – O que mais me custa são as crianças. E as mulheres? – perguntei-lhe. Não me respondeu. No dia das execuções, ele matou alguns homens, o meu companheiro viu-o. O seu nome é Graça. Na Damba, fomos atacados alguns dias depois da nossa chegada. Depois da luta, os soldados e os civis invadiram o terreno para ver a situação. Estava com eles e vi um ferido. Um jovem que estava estendido sem se mexer. Não tinha nenhuma ferida visível mas não se podia mexer e estava consciente, de olhos abertos. Fiquei muito perto dele receando já as violências e pronto a intervir como médico. Alguns soldados e um oficial quiseram aparentemente matá-lo mas consegui fazê-los ir embora. Mas chegou um civil. Olhou para o ferido e logo deu-lhe um pontapé na cabeça que virou. Comecei a explicar-lhe que ele estava ferido e deveria ser protegido, mas antes que eu pudesse acabar e demasiado depressa para que eu pudesse intervir, ele deu uma coronhada tão forte que o crânio se desfez. Não pude fazer nada, nem sequer puni-lo. Quando tentei fazer queixa a quem comandava a guarnição antes da nossa chegada, o alferes Macedo, ele disse-me: – Oh, isso. Fazemos ainda pior. Para matar os prisioneiros na administração, às vezes cada um de nós dá uma catanada. Já deixei antever que a chegada de grandes quantidades de tropas de que os nossos batalhões foram os precursores, tinha mudado a situação. Na verdade, essas numerosas tropas permitiram defender muito bem as cidades e as povoações em perigo, reocupar as outras abandonadas, abrir estradas e mantê-las em certa medida seguras. As tropas envolveram-se em combates contra os nacionalistas com nítida desvantagem para estes, devido ao seu péssimo armamento, ao seu desconhecimento geral das regras de combate, à falta de quadros militares, de organização, de um bom serviço de saúde, etc., e isso apesar da notável coragem dos combatentes nacionalistas. Assim, em muitas regiões por onde passámos, as estradas ficaram facilmente transitáveis, os primeiros combates foram muitas vezes os últimos. No entanto, em algumas regiões apresentando melhores condições para os nacionalistas, eles continuaram a luta, pareceu-me, com mais prudência e inteligência. Depois da ocupação das povoações e de alguns combates que foram sangrentos, sobretudo para os nacionalistas, a paz manteve-se em vastas regiões. É preciso notar que quando chegámos, os Africanos já quase não estavam nas povoações visitadas. Havia alguns, em número muito reduzido, agregados às povoações europeias, tanto assimilados (enfermeiros, ajudantes de enfermeiros, pequenos funcionários, etc.), como alguns criados que terão podido escapar às matanças. Além de algumas mulheres, muitas vezes antigas amantes dos europeus que aí moravam. Em relação aos criados, no Bungo garantiram-me que os residentes portugueses tinham morto, numa noite, todos os criados porque já não tinham confiança neles. Porque eram Africanos? – O mais monstruoso ainda é que algumas dessas vítimas tinham avisado antes os patrões de que ia haver um ataque. Os assimilados eram também muitas vezes vítimas de suspeitas e mortos em seguida. Conheci homens que escaparam por sorte e que eram suspeitos por razões inacreditáveis. Também os mestiços, em menor grau no entanto, corriam riscos e alguns sofreram a morte. Os nossos batalhões e todos os que entraram nessa fase estiveram em contacto directo com os europeus do mato. Quase todos os oficiais e soldados ficaram chocados com o carácter cobarde, absolutamente desonesto, sem nenhum escrúpulo de quase todos esses homens. Confessavam-nos francamente todos os seus crimes sem mesmo pensar que poderíamos estar contra eles. A sua cegueira é extraordinária. Esses homens que em Angola, pelo menos no Norte, levaram uma vida de ladrões legais, roubando os Africanos de todas as formas para enriquecerem rapidamente, tornando-os escravos com a cumplicidade interessada dos Administrativos, roubando os seus patrões quando empregados e os empregados quando patrões, manifestaram durante os motins toda a sua maldade adquirida. Sempre tinham sido os donos e senhores graças à corrupção dos Administrativos. Aproveitaram-se da sua autoridade para matar e torturar à vontade. [...] Face a todas essas conversas e aos perigos por que acabavam de passar, numerosos soldados e oficiais odiaram esses homens que eram a causa da sua deslocação da metrópole e dos perigos de morte que corriam. Ficaram chocados pelo sentimento de, apesar de tudo, os nacionalistas terem razão. No Bungo, depois da nossa primeira e muito difícil etapa, uns soldados viram um comerciante vender uma caixa de fósforos a um Africano por 10 escudos (20 antigos Fr. congoleses) quando o preço normal era de 0,5 escudos. Esses comerciantes, segundo as suas inclinações e hábitos, começaram, para além disso, a roubar aos próprios soldados e os oficiais. Quase toda a gente estava então farta da guerra. Mas os períodos de perigo acabaram depressa. Depois, ficámos mais ou menos em paz (salvo em alguns lugares, sempre perigosos, da imensa zona do batalhão) e assim esquecemos essas preocupações. Pouco a pouco, os comerciantes perceberam que não tinham seguido uma boa táctica. Começaram a fazer os possíveis, assim como os Administrativos, para conquistar a simpatia dos militares, sobretudo dos oficiais. Tornaram-se simpáticos. Diminuíram os seus roubos. Na nossa vasta zona – Bungo, 31 de Janeiro, Damba, Maquela, Lucunga – desde meados de Junho que a situação se tornou mais ou menos calma e as estradas facilmente transitáveis. Em seguida, a minha companhia ocupou Lembua e ajudou a reocupar Bembe, alargando ainda mais a nossa imensa zona. Aí havia alguns ataques mas, excepto no Bembe, não era como no início. No entanto, o Exército Português, numa terceira grande fase, lançou-se ao assalto de Nambuangongo. Este foi difícil e custou pelo menos algumas dezenas de vidas ao Exército português. Com esta retomada de posição, uma posição muito forte dominada pelos nacionalistas foi reduzida pelo exército português. Mas as acções da guerrilha continuaram aí como em outros lugares favoráveis: Bessa Monteiro, Vila Viçosa, etc. Depois do regresso à calma na nossa região, e em todas as outras com a mesma situação, o Exército empreendeu uma das suas acções mais importantes para o Governo fascista: a campanha psicossocial, visando fazer regressar as populações em fuga e escondidas nas múltiplas matas, como único meio de erguer uma economia totalmente destruída e paralisada pela falta de mão-de-obra. Para conseguir isso, distribuíram panfletos, deram alimentação e cigarros aos africanos encontrados por acaso no mato, etc. Mas esta campanha estava a ser empreendida pelos soldados combatentes, no início sem vontade, sem confiança, sem verdadeiro interesse ou piedade pela situação dos Africanos. Mas em algumas regiões como a Damba, onde aliás tinha ficado uma pequena parte da população africana, vimos regressar sobretudo mulheres, crianças e velhas ou velhos. No entanto, alguns outros homens continuavam a ir para o Congo, vendo que a situação tinha permanecido mais ou menos na mesma em relação à que existia antes dos tumultos, que os assassinos europeus continuavam intocáveis e até respeitados pelo Exército, etc. Têm-me perguntado muitas vezes – Haverá perigo para os Angolanos se eles regressarem agora? Não posso responder negativamente. Mesmo em Setembro, em plena campanha psicossocial, uma companhia do batalhão partiu para o Cusso e no caminho prendeu três homens que passavam, talvez por acaso. Um deles apenas falava francês. Foram entregues à Administração para os interrogatórios e futuro destino, como era hábito. Mais tarde, um capitão contou-nos, ele próprio enojado, que o chefe Cabeça tinha atirado gasolina para cima desse (e talvez sobre os outros, o que ignoro) e pôs-lhe fogo, a rir. Em Maquela do Zombo, em Outubro, a Pide local também tinha prendido um funcionário africano da alfândega e matou-o. Em Setembro, um oficial contou-me que na zona de Catete, anteriormente calma, o Administrador, o secretário da Administração e o capitão tinham mandado matar na sua presença, à cacetada, mais de 400 homens em poucos dias, porque se teria descoberto uma conspiração. É provavelmente verdade que o Exército português, em princípio, teria interesse em convencer as populações a regressar e que ele dominou a loucura homicida dos colonos, mas estes continuam a ter um grande poder, assim como a Administração que representa a Pide, ou esta, onde ela tem os seus órgãos próprios. E assim, acho muito provável, e citei casos, que os assassinatos continuem. Se a guerra se reforçar, é impossível prever as reacções dos colonos desprovidos de moral e mesmo as dos soldados e oficiais fascistas, a quem o contacto com os colonos, as ordens e os exemplos dos superiores, a campanha racista, a guerra, etc., contribuíram para transformar. Quero ainda sublinhar que, se a imensa maioria dos colonos do Norte tem mesmo as mãos sujas de sangue, existem alguns europeus, sobretudo funcionários, enfermeiros, homens com profissões liberais (médicos, engenheiros, advogados), caçadores, etc., que estiveram afastados das matanças e procuraram activamente impedi-las. Encontrei-os em Luanda, no Bungo, no 31, na Damba, no Negage, em Maquela. Mas o seu número é muito reduzido: um entre 20, 2 ou 3 entre 60, etc. 2 – CONCLUSÕES As últimas modificações trazidas à situação dos africanos em Angola, como a abolição do Estatuto dos Indígenas, algumas garantias ao direito de propriedade do africano, a prometida criação da Universidade, etc., parecem-me mudanças de fachada. O direito de voto está assim alargado aos que sabem ler, quer dizer aos assimilados, que já o possuíam, etc. É preciso ver que a economia e a vida social em Angola, pelo menos no Norte, eram baseadas numa exploração do trabalho humano que se parece terrivelmente com a escravatura. Esta forma de viver criou, naturalmente, relações sociais, complexos, interesses com os quais o Governo Português fascista não poderá romper, penso eu, sem deixar de ser ele próprio. Quer dizer, para modificar de facto as condições de vida do povo Africano, seria preciso tomar medidas tão draconianas que os fazendeiros e industriais europeus de Angola, que apoiam o Governo, já não teriam interesse em ficar. No entanto, os fazendeiros de café do Norte vêem-se face a um impasse: a sua mão-de-obra desapareceu, ou morta ou em fuga. O Governo perspectiva medidas para recuperar a mão-de-obra: a emigração de homens do Sul de Angola, o regresso dos refugiados e dos que se escondem nas matas ou ainda a substituição da mão-de-obra africana do Norte por mão-de-obra europeia de Portugal, militar ou civil, a mecanização do trabalho, etc. No entanto todas essas hipóteses me pareciam, em Outubro, muito difíceis de realizar. De qualquer forma, considero também problemática a futura coexistência, sobretudo no Norte de Angola, no mato. Ninguém poderá esquecer tão cedo as matanças, sobretudo se os assassinos ali ficam. Mas aparentemente eles querem ficar. Também se pode pensar na oposição democrática portuguesa em Angola que parece mais forte no Sul. Esta oposição está sufocada pelo Governo fascista. Aliás não sei se ela é, no seu conjunto, realmente defensora dos direitos dos Africanos, apesar de haver sem dúvida alguns europeus, certamente em número reduzido, que desejam sinceramente o bem-estar das massas africanas e por isso foram presos e torturados. Penso que a situação evoluirá ainda muito. Quanto aos partidos nacionalistas que teriam dirigido a luta, é um bocado difícil para mim, que não tinha a confiança dos oficiais superiores, distinguir a sua acção. Muitas vezes os tumultos terão sido espontâneos, pelo menos no início, como resultado de uma repressão absolutamente injusta, criminosa. Havia quase em todo o lado, no Norte, esboço de organizações revolucionárias que, a certa altura, comunicavam entre si. A luta e a ocupação das povoações, as patrulhas, aparentemente fizeram em pedaços a maior parte dessas organizações ou levaram-nas a interromper a guerra. Os meios de informação portugueses atacam muito frequentemente Mário de ANDRADE, Holden Roberto, Amílcar Cabral (da Guiné) e alguns outros nomes. A luta inicial em Luanda e arredores, talvez em Nambuangongo, teria tido origem local, dirigida por intelectuais aí residentes. No meu batalhão e noutros círculos militares, os oficiais superiores odiavam sobretudo Mário de Andrade, dirigente do Partido MPLA, que se calculava que tivesse posições fortes em Luanda e arredores, e Holden Roberto, dirigente do Partido UPA, que seria o mais influente em S. Salvador e arredores (no distrito do Congo Português) no início da luta; este teria depois perdido algum prestígio. É preciso notar que em Outubro já tinha havido tumultos dispersos e sufocados no Sul: – Balombo, Porto Alexandre, etc. Será possível haver negociações? – Quando saímos, o Governo e o Exército estavam demasiado entusiasmados com o seu sucesso para quererem negociar. E se um dia forem obrigados, ainda será preciso pensar na atitude dos colonos que não podem esquecer os primeiros ataques sangrentos dos nacionalistas e, depois disso, as suas próprias matanças. Não acredito, com a minha experiência de combatente contra o fascismo em Portugal, que o actual Governo possa ceder um dia a não ser pela força, seja pela força das armas, seja pela força das represálias económicas. O colonialismo representa, para o Governo fascista, uma fonte de divisas demasiado volumosa para que este o abandone sem se desmoronar em seguida. Tenho a certeza que ele tentará defender o seu domínio sobre as colónias à custa de ainda mais vidas e sofrimento, em primeiro lugar dos povos angolano, moçambicano, guineense, sãotomense, caboverdiano, timorense e, em segundo, do povo português. Considero absolutamente inútil e ridículo acreditar numa evolução do colonialismo fascista. Não vejo outras forças capazes de o forçar a isso, a não ser as forças nacionalistas bem dirigidas e as forças democráticas em Portugal. Mas mesmo no caso de uma vitória democrática sobre o fascismo, se não for suficientemente clara, podemos ter um regime que tente manter-se numa situação equívoca em relação ao colonialismo. Às Nações Unidas – estimo ser meu dever chamar a vossa atenção para a terrível situação que os angolanos sofreram e continuam a sofrer sob o mesmo regime. As repressões coloniais de outrora não podem ser consentidas sem que os países intervenham. Depois disso e da indescritível miséria e atraso que reinam em Angola, não se pode mais ter dúvidas que o Governo Português não quer ajudar o povo angolano, antes pelo contrário somos obrigados a compreender que ele procura apenas explorá-lo, manter a sua situação a pior possível para ter mão-de-obra barata, em benefício de alguns portugueses sem escrúpulos que o Governo evidentemente protege com o seu exército. Também somos obrigados a compreender que para ajudar os seus amigos, o Governo fascista não recuará perante qualquer medida, inclusivamente as que evidenciam o total desprezo pela vida dos indígenas da sua colónia. Assim, exorto-os a tomar medidas verdadeiramente enérgicas e sem demora contra o colonialismo do fascismo português.
Relatório de Mário Moutinho de Pádua para a Segurança Nacional Congolesa e para a Comissão de Inquérito para a questão angolana da ONU (ex-tenente médico do exército português de Angola), Maio 1962